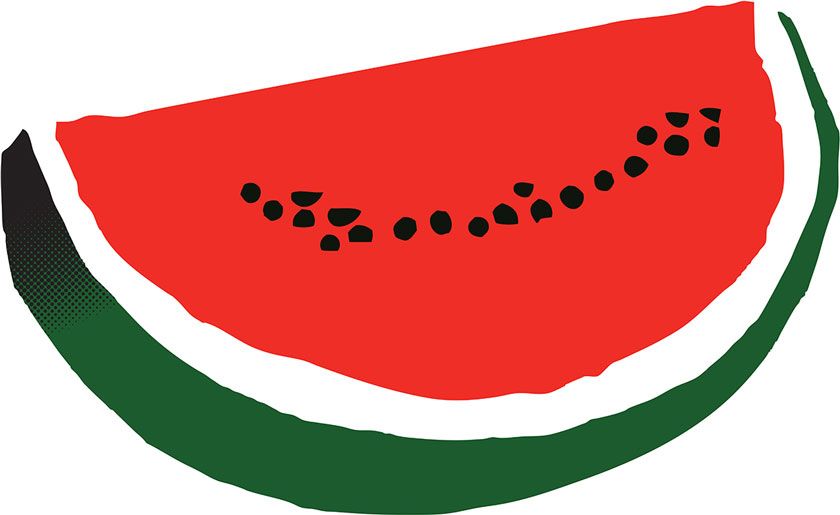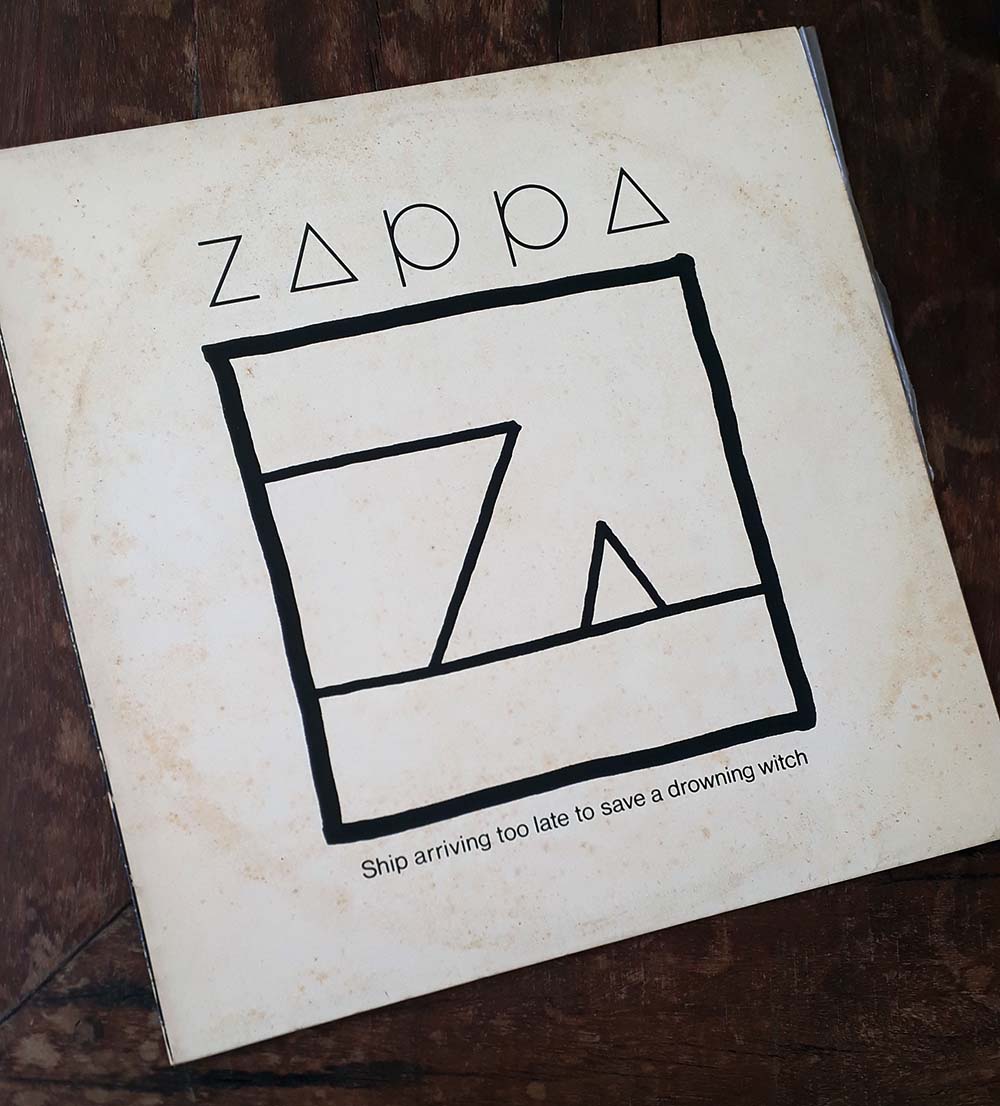É difícil lidar com todos os impulsos que tenho no dia a dia. Sei que, se segui-los, em apenas 5 minutos, minha vida vira um pandemônio pior que o de Jogos Vorazes. Então, tive que aprender a não dar ouvidos a eles por mais tentadores que fossem. Não gritar de volta quando o chefe era idiota. Não comer fritura todo dia mesmo querendo batata frita de acompanhamento em qualquer prato. Não torrar todo meu dinheiro em festa por mais que a monotonia me assustasse.
O estímulo vicia nele mesmo. No momento em que você cede ao primeiro, o segundo já vem batendo à sua porta que nem uma Testemunha de Jeová no domingo de manhã. Ele forma um difícil e complicado buraco negro eterno dentro do nosso corpo pedindo sempre uma nova conquista, um novo mérito ou, até mesmo, um novo impulso – ainda mais por ter crescido numa geração onde ensinam que o mundo é seu e você deve tomá-lo.
A gente cresceu ouvindo “The World Is Mine”, assistindo filmes de pessoas normais que conseguem crescer na vida basicamente por acreditarem que conseguem e lendo que a meritocracia é a forma mais justa de convivência social. Então como não comprar cada vez mais se a vida inteira eu ouvi a Fergie dizer que um vestido Prada nunca quebrou o coração dela?
Meu pai sempre disse que, quando surgisse uma vontade compulsória de qualquer coisa, era só tomar um copo d’água, sentar e esperar 10 minutos. Se não desse certo, era só repetir o processo até que a fórmula funcionasse. Fica aqui um apelo a ele: já estou bebendo o copo d’água há 21 anos e a vontade não some, então, pelo amor de deus, trate de arrumar uma nova tática!
* * *
Ilustradora Convidada:
Ierusalinski
 Oie! Meu nome é ana, ou ierusalinski (meu nome artístico). sou uma ilustradora carioca, formada em comunicação visual e sou apaixonada pelo mundo da ilustração, trabalho atualmente em especial com ilustração digital. Espero que curtam e venham conhecer mais do meu trabalho lá no meu instagram: @ierusalinski .
Oie! Meu nome é ana, ou ierusalinski (meu nome artístico). sou uma ilustradora carioca, formada em comunicação visual e sou apaixonada pelo mundo da ilustração, trabalho atualmente em especial com ilustração digital. Espero que curtam e venham conhecer mais do meu trabalho lá no meu instagram: @ierusalinski .
👉 Conheça o trabalho da Ierusalinski no seu Instagram.
Leia também:

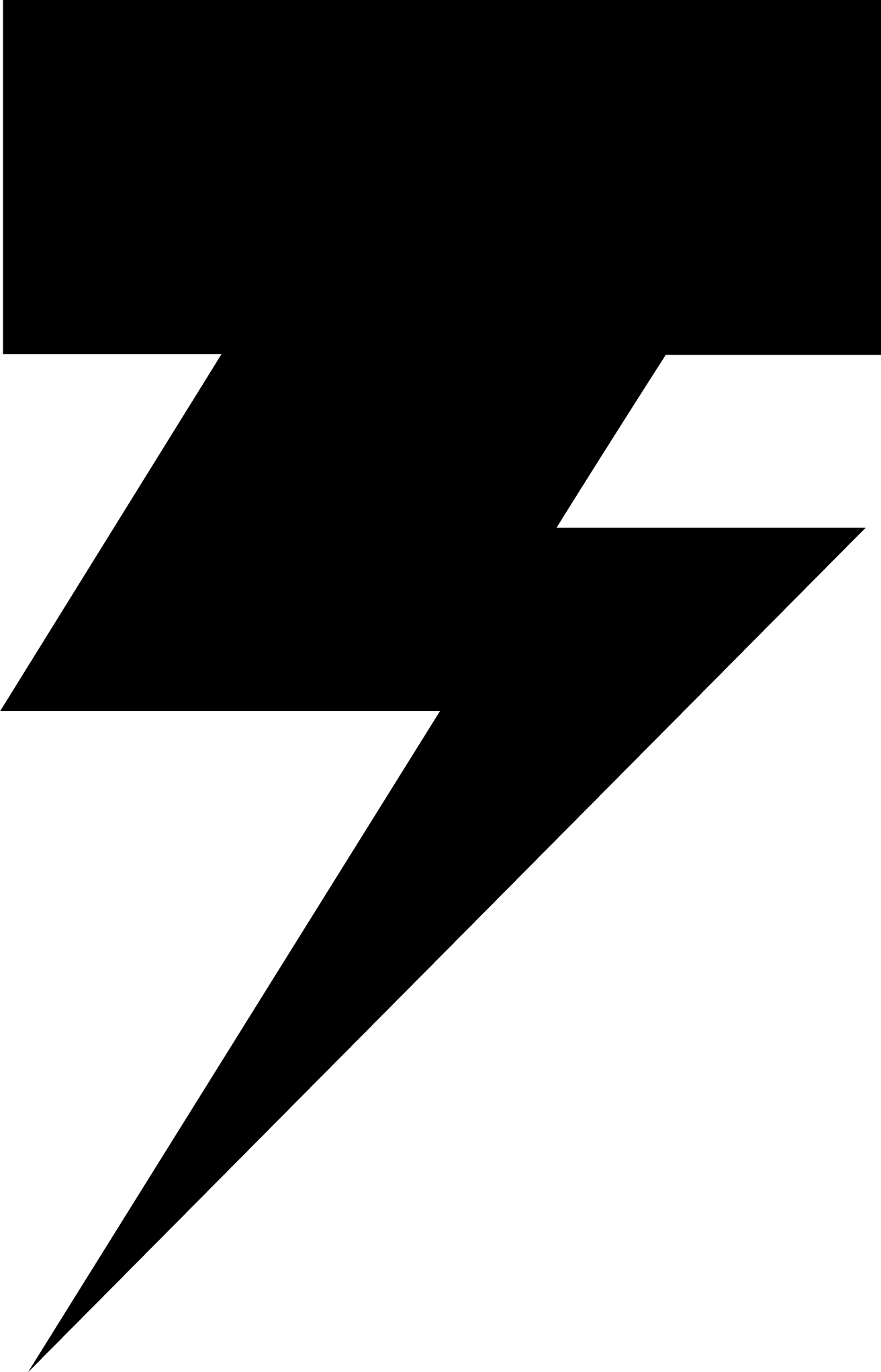




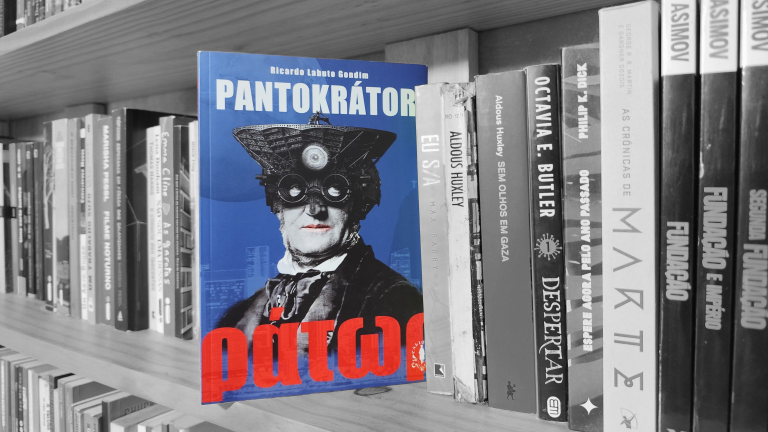






 Hey, meu nome é July Teixeira e tenho 24 anos, sou formada em design de animação, mas me encontrei na área de artes para jogos. E aparentemente nos tempos livres eu também faço uns desenhos ai…
Hey, meu nome é July Teixeira e tenho 24 anos, sou formada em design de animação, mas me encontrei na área de artes para jogos. E aparentemente nos tempos livres eu também faço uns desenhos ai…