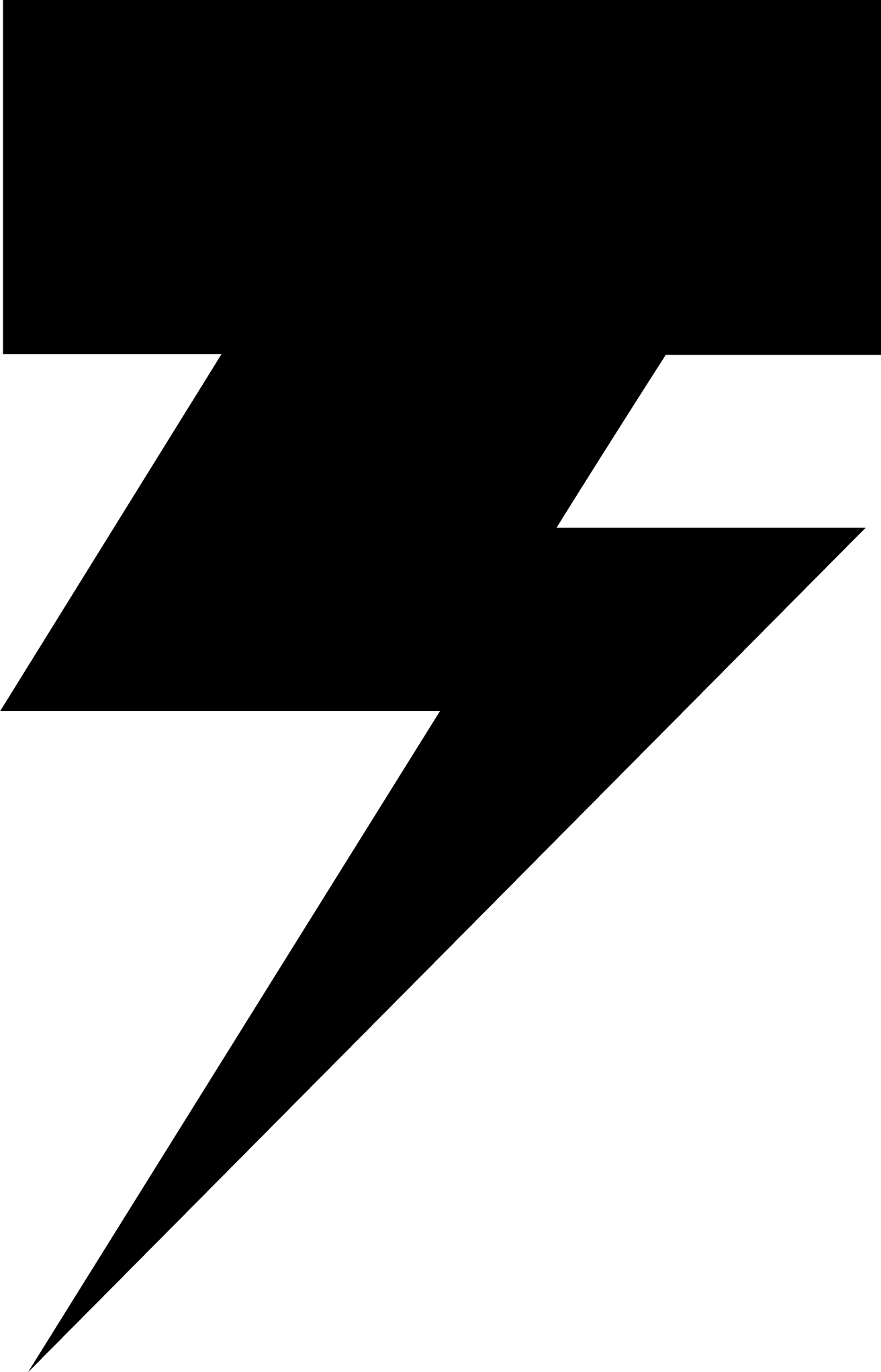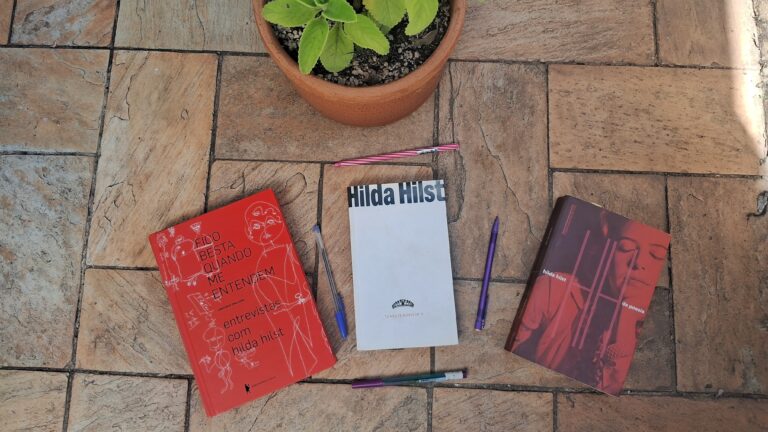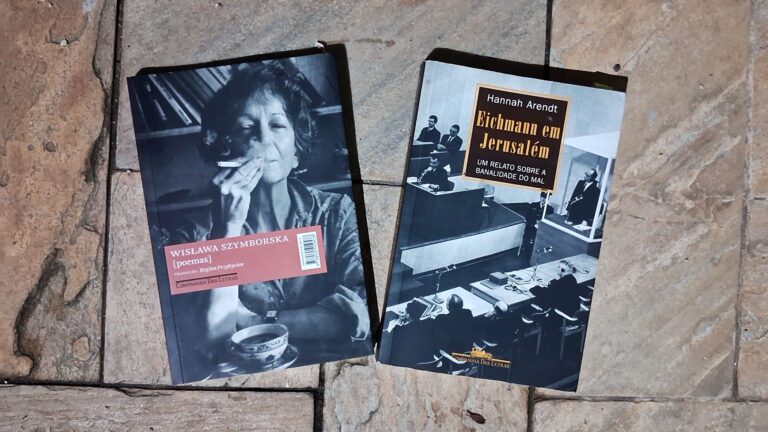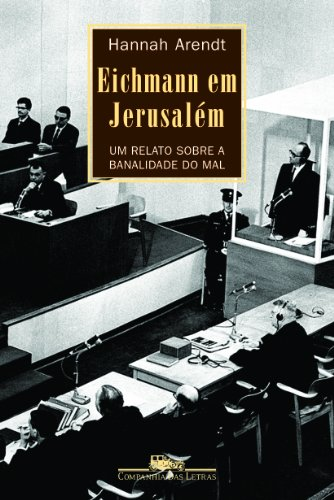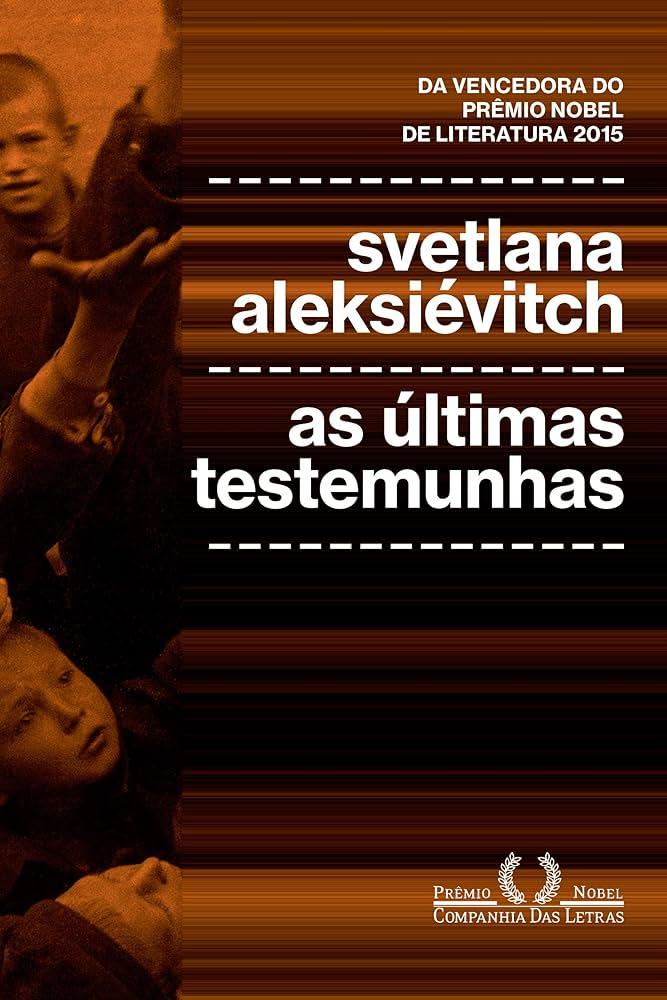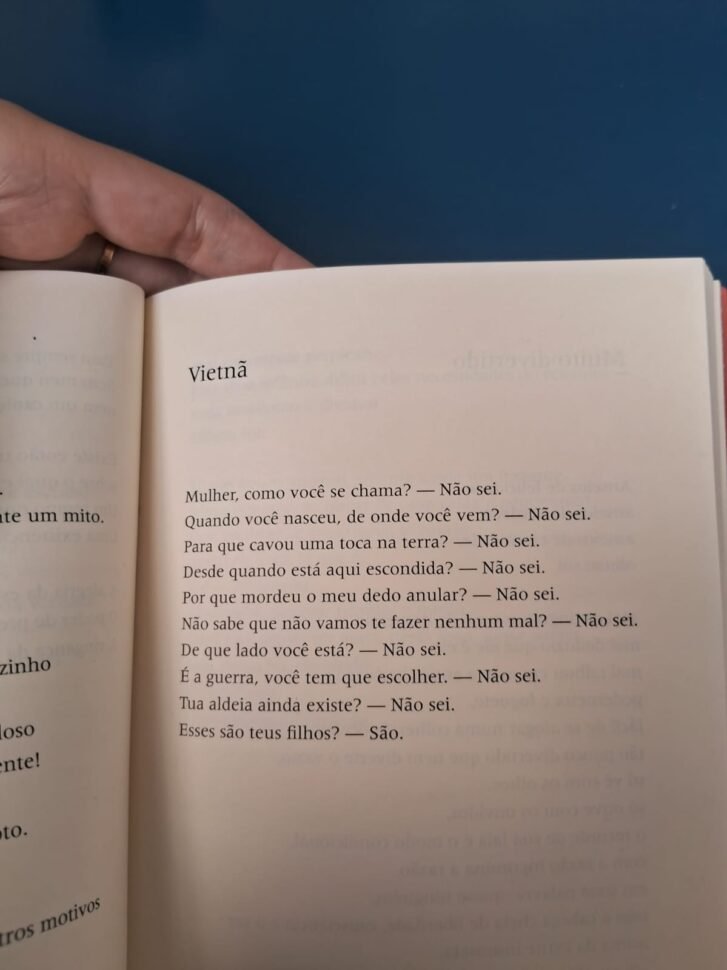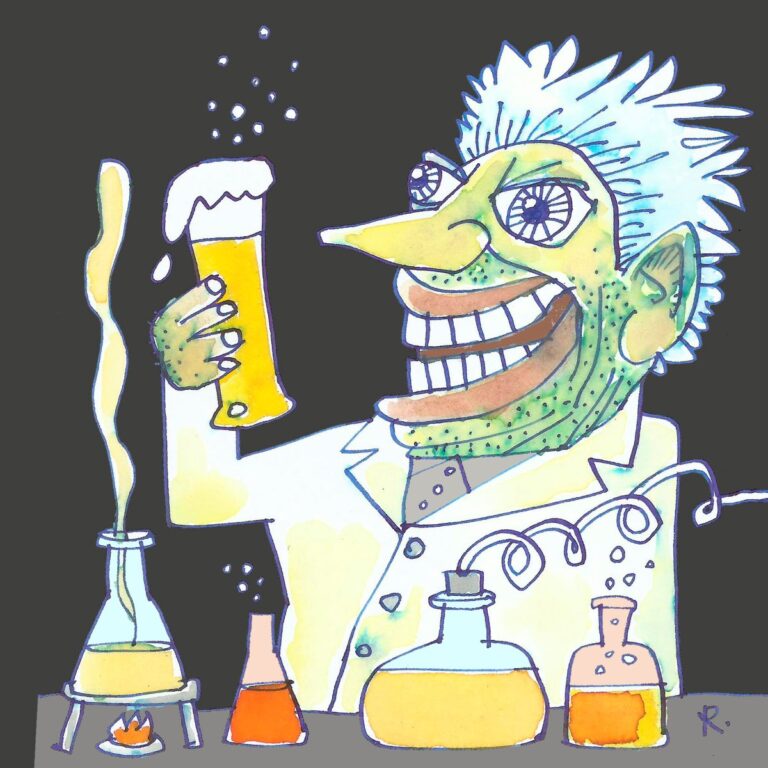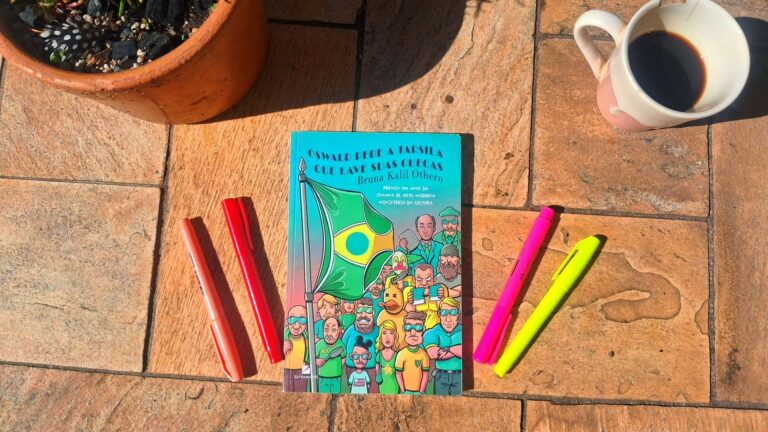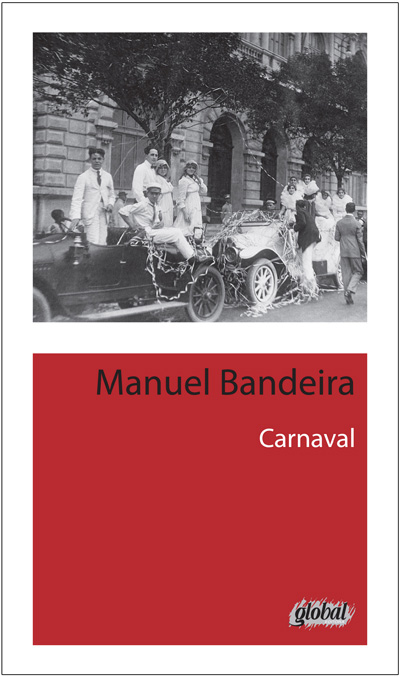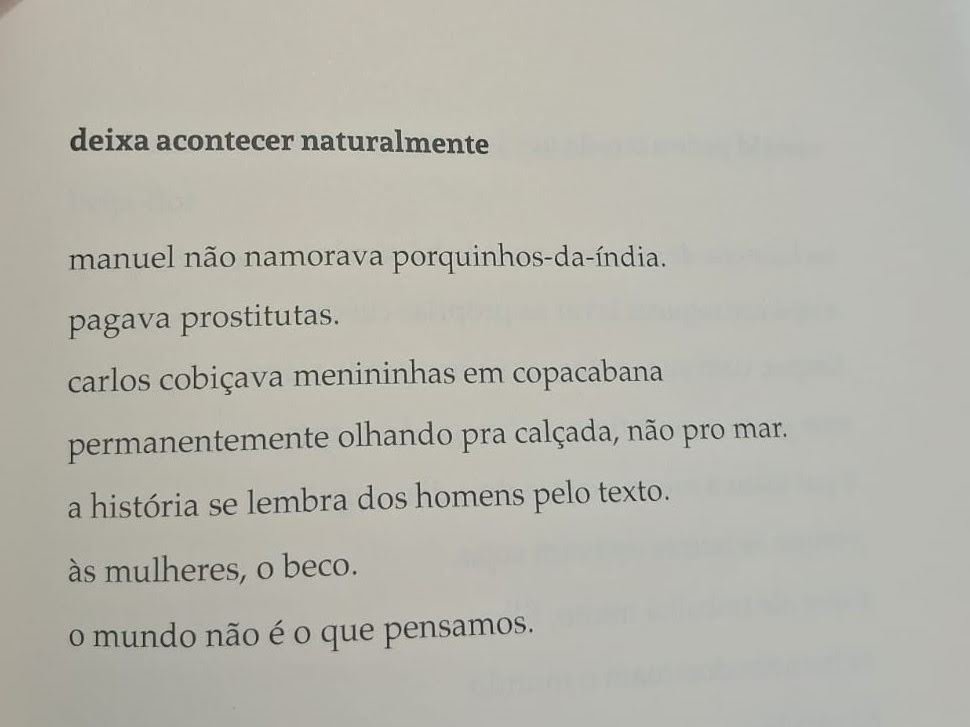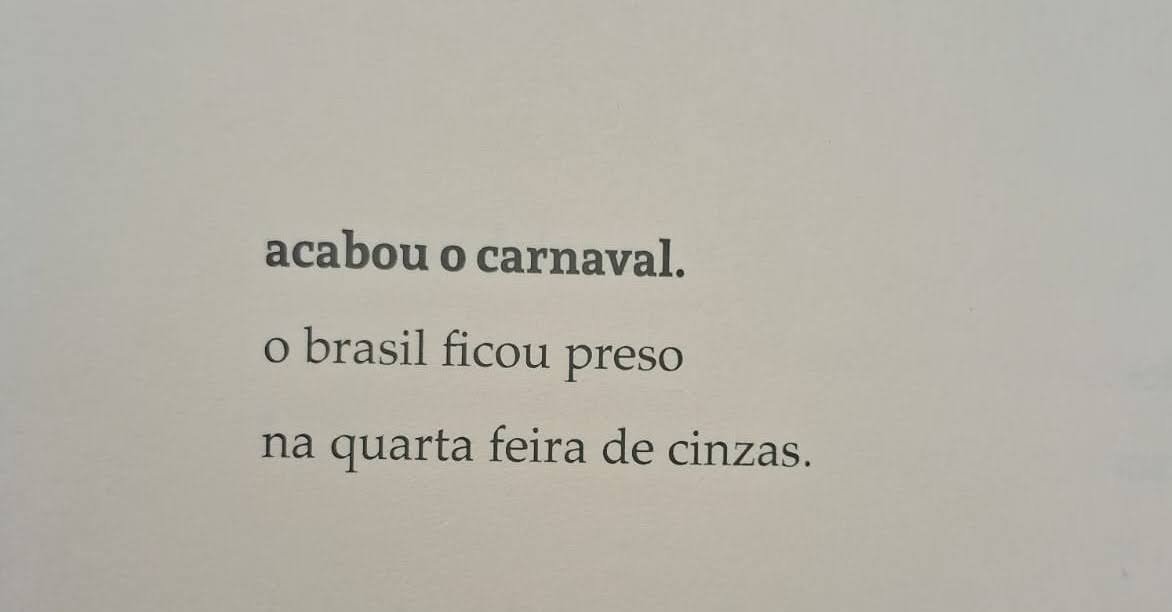Confesso que fui assistir O Agente Secreto já meio contaminado. Wagner Moura premiado, amigos falando bem, direção de Kleber Mendonça Filho (um dos diretores que eu curto muito), aquele clima de “é óbvio que vai ser bom”. E é aí que mora o perigo, né? Quando a expectativa vem pronta demais. Mas, enfim, fui. E saí bem mais interessado do que eu esperava, principalmente na montagem do filme.
Sem spoiler, fica tranquilo. Eu odeio spoiler. Spoiler e comida fria são duas coisas que eu não consigo engolir, se o prato é quente, precisa ser servido quente, ué. Foi mal, mas como sou um cozinheiro de fim de semana, precisava mencionar minha preferência para fazer um gancho tosco e te convidar a conhecer esse meu projeto: A Cozinha TREVOUS, dá uma olhadinha lá se você curte cozinhar. Mas voltando.
O que mais me chamou atenção no filme não foi exatamente a história em si, mas a forma como ela é contada. A montagem. O ritmo. Essa escolha de não te entregar tudo mastigado. Você precisa prestar atenção, acompanhar, ligar os pontos. Em alguns momentos, você acredita estar no controle, mas alguma coisa acontece e tudo muda.
A montagem me pegou muito, principalmente porque gosto quando o clássico se mistura com o que é mais contemporâneo. Durante muito tempo achei essa fusão meio brega, confesso. Quando comecei no audiovisual, comecei como editor/montador e ninguém queria usar essas fusões, parecia errado, datado, mas hoje em dia talvez as pessoas aceitem melhor. E vamos combinar que o que tem de clipe indie que força esse recurso e estética antiga, né? Mini DV fake, VHS de mentira, zoom exagerado, cena parada contemplativa. Mas quando funciona, funciona.
E no filme funciona.
A montagem de O Agente Secreto me lembrou muito Fargo. Não no sentido de copiar, mas de linguagem mesmo. Divisão de tela, tempo morto que não é morto, personagens que entram em cena só para bagunçar sua expectativa. Você acha que alguém vai ser importante, que vai voltar, que vai se conectar… e não. Simplesmente não. E tá tudo bem.
A semelhança entre O Agente Secreto e Fargo (na minha opinião, ok?) não está só na montagem ousada ou nos personagens marcantes, mas também nessa maneira de equilibrar tensão e humor ácido, de alternar entre o absurdo e o realismo. Assim como em Fargo, a montagem do filme brasileiro aposta em um ritmo meticuloso, cheio de camadas, onde curtos momentos de calmaria (aparente) podem ser quebrados por uma brutalidade súbita ou uma situação que beira o cômico. Isso tudo cria uma atmosfera que mistura o desconforto com o riso, um humor que nasce do estranho, do inesperado, daquele crime que começa pequeno e vai crescendo até sair do controle. E tem ainda o jeito de brincar com o “baseado em fatos reais”, ou de ancorar a ficção em contextos históricos ou sociais que parecem plausíveis, dando à montagem uma verossimilhança curiosa: a gente acredita porque, de algum jeito, poderia mesmo acontecer. Vai me dizer que você não buscou no Google se a história de O Agente Secreto era real ou não?
Olhando para o Kleber Mendonça Filho, isso faz sentido. Ele já comentou em entrevistas que tem background em programação, e dá para sentir esse olhar mais técnico, mais atento à estrutura, ao fluxo. Não li nada específico sobre a montagem do filme, então posso estar viajando (e às vezes a gente viaja mesmo), mas parece muito um trabalho de confiança entre direção e montagem. Alguém que teve liberdade para “meter a mão” e deixar a coisa respirar. Não sei, será?
Os atores estão ótimos, obviamente. Wagner Moura segura bem o filme, mas tem uma personagem, uma senhora que eu infelizmente esqueci o nome… (eu disse que não gosto de spoilers, tô brincando), o nome da personagem é Dona Sebastiana, interpretada pela Tânia Maria que tem chamado muito a atenção por ter uma carreira “jovem” começando com Bacurau (dá uma olhadinha aqui sobre a história dela e o Cinema, bem interessante). Tânia é carismática, expressiva, estranha no melhor sentido possível, não tem como não se encantar. Tomara que tudo dê certo pra ela nessa corrida de prêmios.
No fim das contas, o que mais me agrada em O Agente Secreto é esse universo cheio de personagens que não estão ali só para servir à trama. Eles confundem, incomodam, desviam, criam humor, criam ruído. E isso, pra mim, é uma das coisas mais interessantes de se assistir.
Se você gosta de Fargo, vale muito prestar atenção. Não pelo “o que acontece”, mas por como acontece. Se não assistiu, tudo bem, assista O Agente Secreto primeiro, (vai Brasil-sil!). E depois quem sabe você da uma moral para Fargo.