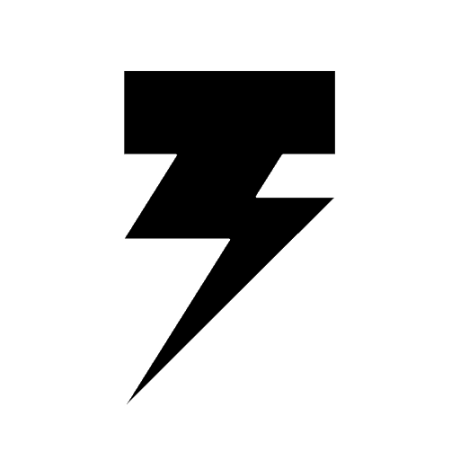O evento já passou, então aqui começa uma reflexão como convite para uma conversa mais ampla. A primeira edição da NOVA bienal, que aconteceu no Museu do Amanhã entre setembro e outubro de 2023, foi um marco na cena de arte-ciência na América do Sul. Arte-ciência, assim com hífen no meio, pode ser descrita como uma vertente da arte contemporânea que faz uso da tecnologia e de noções científicas justamente para questionar e especular sobre a nossa relação com elas. A cena cultural do Rio de Janeiro, se comparada à de São Paulo, deixa a desejar na difusão de novas mídias. A NOVA bienal então ocupa uma lacuna importante, e não por acaso, ela é um novo eixo do Festival Internacional de Linguagens Eletrônicas (FILE), originado em São Paulo, que tem como missão tornar esta cena mais acessível para o grande público.

O tema desta primeira edição foi a nova estética que a o multiverso digital vem gerando. E obviamente muitos trabalhos expostos na NOVA foram experimentos em machine learning ou, como se chama mais comumente hoje, inteligência artificial. Para se obter essa formação de “inteligência”, existe efetivamente um processo de aprendizado de máquinas. O código com que os computadores computam, começa a se informar e se adaptar, integrando informações de fontes múltiplas, em velocidade avassaladora, para apresentar respostas que se aproximam de algo humanamente elaborado. Por isso especialistas preferem chamar este processo de machine learning. Esta “mente sintética”, na prática, se baseia no comportamento e conteúdo humano para simular resultados. O conteúdo, exponencialmente crescente e acessível online, é usando como ingrediente para este caldo inteligente. Enfim, seja inteligência ou não, as novas ferramentas, como as de edição de texto e de imagem por exemplo, vem encantando multidões, fomentando uma produção digital nunca antes vislumbrada. É como se as máquinas finalmente estivessem sonhando, dotadas de uma imaginação cujo input ainda é humano.
Como artista plástica, em primeiro momento eu fiquei perplexa, e um tanto irritada quando as primeiras chamadas “pinturas” geradas pelo Dall-E, Midjourney, Imagine with Meta ou PlaygroundAI começaram a se espalhar na rede. Logo depois surgiram as tendências, trends, dos (auto)retratos que simulavam pinceladas das mais variadas eras e estilos. Não foram os geradores de imagens em si que me incomodaram, mas foi o entendimento geral de que “arte” é qualquer coisa que se pareça com uma pintura. Qualquer encenação de pincelada, uma miragem, uma cópia vaga de algum poster antigo, eram tidos como uma “criação artística”. Este senso comum ignora o salto que a arte deu desde os fins do século XIX para cá, com o advento da fotografia, a invenção do cinema, da arte cinética, da cibernética, a performance, os happenings, o decolonialismo de todos os formatos que evoluíram e se libertaram das (pre)concepções da História da Arte. De qualquer forma, os geradores de texto e de imagem, com suas pinceladas numéricas, vieram para ficar. E quem sabe o Photoshop, o After Effects e outras ferramentas hoje bem conhecidas podem ter tido quase o mesmo impacto quando foram lançados há poucas décadas atrás.
O mundo inteiro no momento tenta compreender e se adaptar ao novo paradigma. Estamos de mãos dadas com nossos aparelhos. No campo acadêmico, por exemplo, as universidades passam pelo desafio de revisar textos que potencialmente foram editados com assistência de IA. E aí, como examinar o conteúdo quando se está buscando a capacidade crítica dx estudante? Em que lugar um texto escrito em parceria com o Chat GPT pode ser legitimamente aceito e quais seriam os limites para fazermos uso dessa “assistência inteligente”? Editoras de livros e festivais de literatura também vivenciam as mesmas dúvidas. Hoje inúmeras publicações escritas por geradores de texto são enviadas para examinadores. O que fazer? (Aliás, leitorxs, essa que vos escreve ainda não teve paciência para experimentar o Chat GPT; e segue escrevendo, divagando e editando, entre o proverbial bloco de notas no seu telefone e no seu laptop. Para além da proliferação assistida de texto e de imagem (inclusive 3D), temos é que continuar pensando criticamente. Se esta é a realidade de hoje, depois de passarmos pela cibernética, pelos computadores pessoais, o Adobe Suite, os avatares, a nuvem, os deep fakes, e face swaps… o avanço exponencial da tecnologia faz tudo o que conhecíamos até ontem parecer banal.
Eu tive o privilégio de participar da NOVA bienal – o contexto era mais do que ideal – Museu do Amanhã, setembro, FILE, outros artistas feras… E acima de tudo, era a minha primeira exposição no Rio. Sou carioca, mas saí do Rio em 2009 para estudar na Holanda e descobrir o meu caminho como artista plástica. Acabei ficando, me reinventando e só voltando ao Brasil anualmente para rever a família e os amigos. Meu trabalho tomou um rumo completamente inesperado, o qual explico logo mais.
A NOVA apresentava dois ambientes distintos. Um espaço interno, onde as chamadas mídias interativas foram expostas – um salão inteiro de instalações, projeções, câmeras, sensores, e filmes. O outro espaço, externo, ao ar livre, na Praça Mauá logo em frente ao Museu do Amanhã. Foi lá que eu tive a honra de expor minha escultura, Polytope, junto a outras obras que considero fantásticas. Entre elas, o Tube do coletivo Numen for use; Rope do belga Ief Spincemaille; Strandbeest do mestre Theo Jansen; e a Estrela Sensível do Estúdio Guto Requena. Este cenário a céu aberto, de esculturas interativas e quase todas analógicas, era cercado pela paisagem do porto do Rio. Os galpões, gruas e navios de um lado, e do outro, os aviões que vem e vão do Santos Dumont. A toda volta, transeuntes, vendedores ambulantes, skatistas, e todxs mais que possivelmente não iriam visitar o museu, estavam presentes. Também os sons, cheiros e conversas inusitadas da praça, contribuíam para um clima de laboratório em que o Polytope ocupou por 10 dias.
Como em todos os meus trabalhos, a interatividade e a presença do outro tem papel fundamental na experiência artística. A dimensão corporal é o que mais me instiga a criar espaços e objetos coreográficos para mover, provocar, convidar o público a sair da posição de observador para entrar num jogo como ator. Agir. Ação. Atuação. Depois de anos experimentando minhas propostas com plateias europeias, tive a oportunidade de receber o público carioca. A primeira vez do Polytope no Brasil, devo dizer, foi em São Paulo, no FILE 2018 (mais uma vez, obrigada, FILE!). Em Sampa, a experiência com a plateia brasileira já tinha sido sensacional. A grande diferença foi que em 2018 a exposição acontecia num ambiente interno, na sede da FIESP na Paulista. Lá, apesar da entrada franca, da longa duração e da incrível seleção de obras, o público visitante já conhecia minimamente o contexto do festival. Anos depois, volto ao Rio, em plena Praça Mauá. Estar em espaço público, então, ofereceu uma espontaneidade que não existe dentro de qualquer museu ou instituição. E assim, o contato do Polytope com o público foi mágico. Ainda mais com a revitalização do porto do Rio, quase como uma ilha utópica, onde o lazer mais simples não só é possível como é exuberante. Corpos em movimento, corpos em relaxamento, água de coco, patins, conversas fiadas…

Há anos atrás, quando vim estudar na Holanda em 2009, eu estava plenamente imersa nas mídias digitais. Havia me formado em arquitetura três anos antes, trabalhava em webdesign, animação digital, vídeo e alguma modelagem 3D. Tinha tudo para seguir em frente. Mas ao chegar na Holanda perdi o interesse em controlar pixels, e a produção de mais imagens me parecia cada vez mais irrelevante. Quis me reinventar. Comecei estudar a nossa relação com o movimento, na forma mais física possível, a investigar questões sensoriais, somáticas, interpessoais. Voltei ao mundo material. Talvez inconscientemente estava redescobrindo a arquitetura. Queria explorar o potencial de cada espaço e coreografar o público. Hoje o tato, o som e até os cheiros, tem a mesma importância de que a visão nos meus trabalhos. As mãos e os pés entram em ação, o pensamento emerge na pele. Quero criar aquela experiência de “ver com as mãos”, que quase nunca é permitida no contexto da exposição de arte. O corpo inteiro tem que entrar no jogo.
E isso aconteceu mais do que nunca na Praça Mauá. Lá estive por 10 dias, recebendo visitantes, escolas, amigos, familiares, turistas, passarinhos, o sol, o vento, a chuva. A risada das pessoas quando percebiam que não só podiam tocar, mas também eram convidadas a entrar, tirar o sapato, dançar e até mesmo usar os pés para experimentar a obra, foi um presente para mim, que acabei virando observadora da obra. Como uma estrutura ultra leve, feita de fibra de carbono, e maleável, pois suas articulações são flexíveis, o Polytope oferece que o visitante tenha um certo domínio sobre sua geometria – sete tetraedros interconectados, que dobram e se viram, se acumulam ou se deslocam, em resposta direta ao movimento impresso nele. Algumas crianças gostam de formar túneis e correr por dentro dos tetraedros. Com outros, com às vezes que me juntei, em prosas infinitas, sentávamos e ficávamos ali, dentro de tendas invisíveis. Um pai e uma menininha outra vez, ficaram um tempo construindo uma “casa” com “quarto, cozinha, sala e varanda”. Dali a pouco estavam os dois deitados, cada um no seu tetraedro. Fui perguntar e a menininha me explicou que ali era o quarto, mostrando com as mãos. Em tantos anos de exposição, eu ainda não tinha visto uma casa como aquela. Num dos últimos dias de exposição, dois skatistas Mauricio e Wesley passando por acaso pela Mauá, notaram a obra e vieram investigar suas múltiplas combinações geométricas. Passados alguns minutos, fui papear com eles e ali mesmo surgiu a oportunidade de uma pesquisa ainda mais específica. Wesley e Mauricio vislumbravam o Polytope como arquitetura-obstáculo a ser atravessado. Viam possibilidades que eu mesma, não-skatista, jamais viria. Começamos a testar, rearranjando os tetraedros, encontrando passagens, quinas, pontes, dentro da própria escultura. Depois de alguns testes, medindo altura e velocidade, Maurício saltou por dentro da obra, aterrizando em cima do skate em movimento, tudo em frações de segundo. Foi um daqueles dias de sorte, pensei, em que cabeças estranhas, juntando ideias, desvendam um novo horizonte. Também agradeço os queridos Vinícius Tamer e Yuri Cardoso pela filmagem e fotos nesse dia.

Por isso que quando me deparo com os “sonhos” do Midjourney e vejo representações de ambientes que jamais serão construídos, como “obras de arte”, eu sinto falta da experiência visceral; do suor, da gana de se construir algo novo. Um de muitos exemplos que vi passando pelos feeds, foi uma série de arquiteturas infláveis colossais: templos, escadarias, colunas gregas e tantas formas clássicas vislumbradas por algum prompt desejante de experiências sensorial. No fundo, se a gente puder, a gente quer pegar, apertar, sentir, e deitar em cima daquela arquitetura fofa (fofa no sentido literal da palavra). Aliás, posso comprovar com vários infláveis que já fiz. É gostoso imaginar, mas o bom mesmo é quando a coisa é materializada, no tempo e no espaço. Espaços para serem habitados. Corpos para serem transformados. Deve ser por isso, que vou quase na direção oposta. Quanto mais virtuais, mais quero explorar como o mundo material nos afeta, mais quero criar objetos que convidam para o contato e o diálogo corporal. E com todos os desafios que isto implica. Fazer uma obra que pode ser manipulada e ocupada por todos dá muito mais trabalho, mas também traz aprendizado. Criamos mais laços, mais memória, mais profundidade. Realmente acredito no potencial do tato como expressão, linguagem, como uma outra forma de inteligência. Uma obra de arte que você segura nas mãos ou que se mexe literalmente com você, provavelmente jamais será esquecida, pois ela te toca numa camada mais profunda que a da retina.
Links:
https://ludmilarodrigues.nl
https://novabienalrio.org