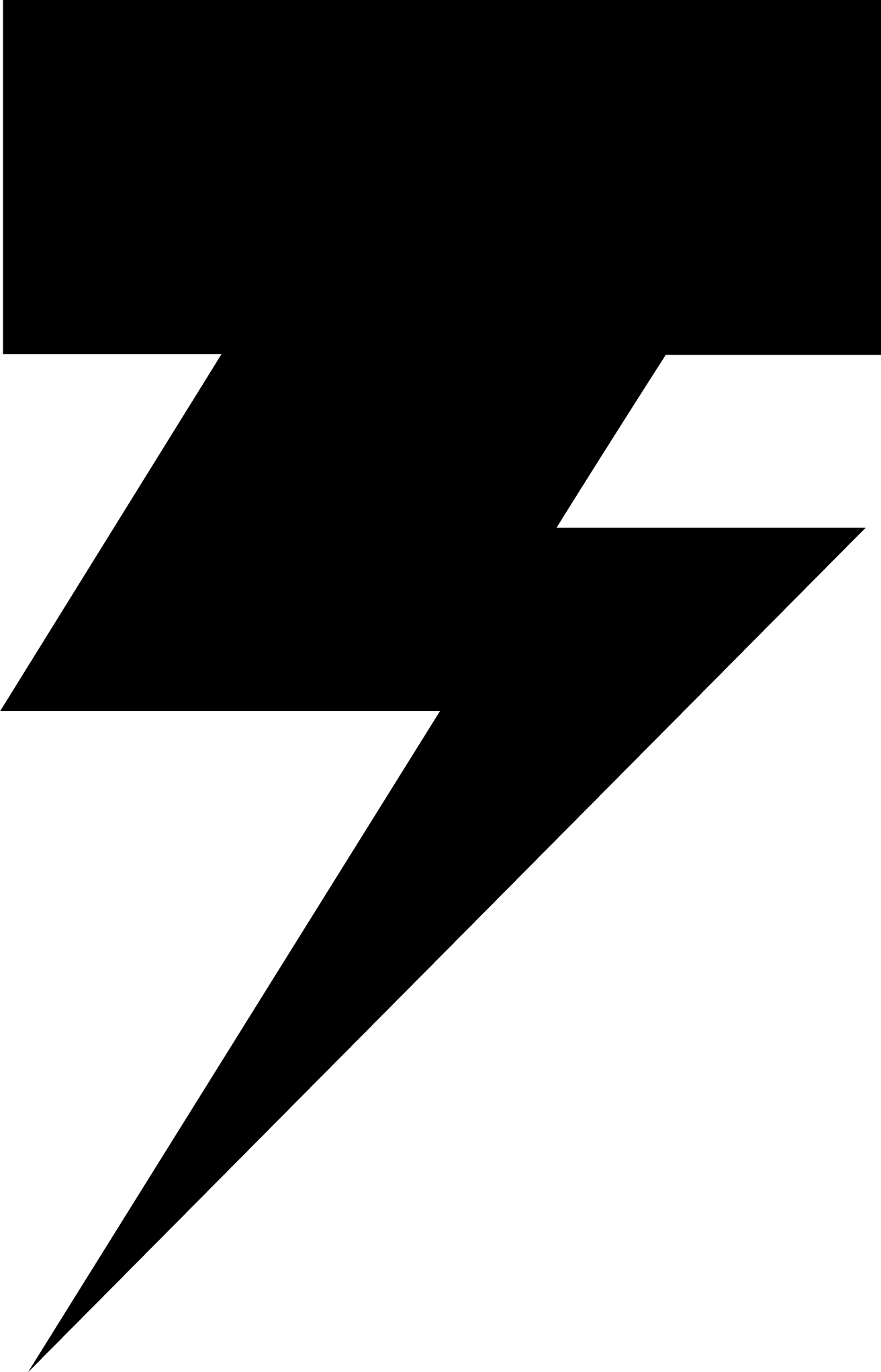É um fedorento e velho mundo. Um mundo antigo travestido de futuro, mas doloroso e velho, cada vez mais e mais moribundo. Os homens que amamos não são homens, muito menos são capazes de amar, eu pensava. Como podemos viver o tempo todo apavorados? Sempre assombrados pela ideia de que abriremos a porta para um lobo vestido de cordeiro. Então deixamos de abrir as portas. Eu deixei, eu não abria mais portas. Queria existir entre minhas paredes, com meu pequeno grupo, meu pequeno inferno. Minha família e nosso pequeno inferno. Eu queria segurança. Queria ser bom. Todos queremos ser bons e nos empenhamos muito. Nos sentimos doentes e perdidos e queremos o paraíso. Queremos o fim da sujeira e da dor. Mas é tão insuportavelmente difícil. E eu acreditava, até então, que era impossível, que eu deveria ser indigno do deleite, da beleza, do sublime. Ou melhor, que para alcançar era preciso um enorme sacrifício, uma enorme resignação, uma re-educação. Meus pais não sabiam amar, meus irmãos não sabem amar e os meus sobrinhos vão nascer igualmente brutos e estúpidos sem nunca saber. Você sabe amar, meu caro ou cara leitore? Eu estava fodido. Pensava que estava destinado a sofrer e sofrer e no final encontrar com alguém que me fizesse sofrer mais um pouco. Quando vi o mundo se trancafiar mais ainda, se fechar mais ainda, me confinar mais ainda no pequeno apartamento com meus pais, eu percebi: o pior parecia estar começando. A justiça era um sonho alvejado demais, desbotado demais, inútil demais. Não tocamos mais nesta palavra. Estava confinada às palavras proibidas do nosso pequeno reino. Ou melhor, do nosso pequeno país. Futurista e rastejante. Com ideias novas e decrépitas.
Todos os dias eu, o narrador a quem vos fala, me perguntava como poderia me tornar mais e mais pervertido? Mais e mais distante do que algum dia pensei que poderia experimentar de sublime, de doce, de formoso. Enquanto meus amigos, cada vez mais, se tornavam igualmente violentos e irritadiços. O ódio parecia nossa nova pátria, nossa língua mãe. Era o ódio quem jorrava leite doce em nossas bocas frustradas. Só sabíamos falar através dele, cantá-lo e cantá-lo em todos os meios que podíamos acessar dentro do nosso triste confinamento. Xingar e humilhar, rugir ultraviolência em todas as redes, para todas as pessoas, em suas caixas privadas, nos comentários abertos. Só nos importava dar vazão à aquela sensação perturbadora de que era preciso saber caçar ou ser caçado.
Eu, nessa época, tinha apenas um curto período de liberdade no mundo real, quando minha mãe – definhando de pavor – me dava uns poucos trocados e uma breve lista de compras que eu deveria buscar no mercado. Nesses dias, ela e meu pai, incapazes de pôr os pés na rua, confiavam a mim um punhado de dinheiro e a chance de ver o céu. Confiança que acontecia apenas uma ou – quando com muita sorte – duas vezes por mês. Nessa especial ocasião, me vestia com minhas melhores vestes – que quase apodreciam em meu armário – e minha mais bela e higienizada máscara para desbravar o mundo inóspito do lado de fora.
No caminho até o mercado, eu experienciava um misto de encantamento e pavor. Olhar a cidade, mais e mais abandonada às moscas, era como observar um velho amigo a se decompor. Do outro lado, a brisa forte contra meu rosto, o calor do sol, o céu que ainda insistia em existir grandioso entre os prédios – apesar de existirem tão poucas pessoas dignas de admirá-lo – eram o mais próximo que eu podia chegar do prazer. No mercado em si, todas as pessoas se evitavam, feito ratos correndo paranóicos. Eu brincava, vez ou outra, de tossir desenfreadamente na fila de espera do caixa e olhar como as pessoas fugiam e me xingavam, como se pudesse ser eu mesmo a encarnação do demônio, da doença, da dor. Às vezes, era arrastado para fora nas mãos duras dos seguranças. O que era, de algum modo, uma forma de ser tocado. Tentava, no entanto, manter alguma prudência ou cautela. Afinal, com o passar dos meses, percebia que caso o mercado decidisse não abrir mais as portas para mim, seria obrigado a reportar pros meus pais e provavelmente perderia a chance de ir à rua pelo menos uma vez por mês. E aquilo era algo que domava todos os meus impulsos de discórdia, de ceder ao caos e a desconfiança que cresciam nas ruas. Aquilo era motivo para tentar, ao máximo, parecer correto e bom. Depois do mercado, eu retornava apressado à minha casa e higienizava cuidadosamente as compras enquanto ouvia meu pai resmungar sobre como minhas roupas eram ridículas, ou como minhas escolhas profissionais não levariam a lugar algum, como afinal toda a juventude era responsável pela praga e pela desordem do país. Ofensas, das quais minha mãe só sabia fazer coro e chorar, e que se estendiam ininterruptas pelos dias seguintes ao mercado, até apagar totalmente a pequena paz do silêncio terrível das ruas.
Um belo dia, no entanto, após receber a quantia exata de dinheiro para as compras, descia minha rua, como sempre costumava descer, quando ouvi uma música forte saindo de dentro de uma das janelas. A música veio me resgatar. Me puxava pra fora daquela rua vazia e estúpida. Como uma enxurrada de saudade batendo contra meu peito, como um turbilhão de palavras que eu esqueci que era capaz de pensar. Uma sensação violenta parecia me rasgar por dentro, me deixando um tanto tonto, quase nauseado com tamanha beleza. Eu me apoiei num poste, tentando de alguma forma recuperar a sensatez, mas a música inspirava em mim a vontade violenta de não existir mais naquele mundo, de não ser mais aquela pessoa covarde, incapaz de digerir aquela música e aquela saudade. Sentia minha cabeça pesar, gotas e gotas de suor pingavam da minha testa, minha visão ficava turva. Tudo escurecia, eu pensei que ia desmaiar no asfalto, que tudo iria se apagar até só restar aquela música ecoando e ecoando em minha cabeça. Então a música cessou. Uma mão firme, coberta por uma luva de plástico, puxou a gola da minha camisa. “Você está bem rapaz? Não está com falta de ar, está? Devo chamar um médico?” dizia o homem velho de óculos redondos e máscara branca. “O senhor devia ter mais cuidado em se aproximar de alguém em tempos como esse, pode ser contagioso. E alguém da sua idade não se sairia muito bem, seu velho idiota!”, retruquei e o empurrei pra longe. Ele caiu tropeçando pela calçada. Dei-lhe em chute nas costas antes que pudesse ir embora, ele urrou de dor e correu de volta para dentro de algum prédio de onde nunca devia ter saído. O meu momento tinha acabado. Minha paz foi interrompida. Eu agora precisava voltar à vida, à ida ao mercado e depois à volta pra casa, pro inferno. E aquele homem queria saber se eu estava bem? Alguém está bem, bom senhor? Que pergunta mais estúpida. Tudo parecia novamente perdido, a música já não era nem algo que poderia lembrar ou reproduzir pra alguém que quisesse saber qual era, como era ou de onde vinha. Eu recuperei o fôlego e a raiva enquanto cambaleava para longe da rua e do homem velho, de volta ao meu caminho e minha lista de compras.
Dobrando a esquina que me levaria ao mercado, o inesperado – novamente – me aconteceu. Agora, no entanto, o extraordinário apareceu entre as ruínas depravadas da cidade, de forma silenciosa. Nenhuma trombeta ou trombone soando, nenhuma sinfonia. Apenas um jovem caminhando em minha direção, quase que flutuando, quase que dançando. Talvez estivesse cantarolando algo embaixo da máscara, mas não podia ouvi-lo. Apenas o vi aparecer do outro lado da rua, brilhando, como se iluminado por um enorme holofote que ofuscava tudo em seu entorno. Se movia gracioso e leve diante dos meus olhos e era impossível não me paralisar na presença dele. Ele então me olhou, com olhos luminosos e determinados de rapina. Senti calafrios, senti todos os meus pelos levantando, minha pele ficou áspera. “Cordeiro ou lobo?”, eu me perguntava: “Cordeiro ou lobo?” Mas com aquela determinação, eu já podia imaginar a resposta. Pedia que Deus fosse bom comigo, que não tivesse posto em meu caminho um anjo exterminador. Sentia que deveria fugir, mas não conseguia tirar os olhos daquele jovem, sereno e belo, marchando formoso até mim. Quando me alcançou, parou em minha frente e apontou para uma ruela abandonada. Eu só pude segui-lo para dentro da pequena rua, para longe do mercado, das pessoas paranóicas, de tudo. A ruela era sombria, cercada por grandes prédios cinzas com grandes muros altos que impediam a incidência do sol e sem portas, o que indicava ser apenas os fundos esquecidos da privacidade de alguém. Uma noite no meio da tarde. Um canto escuro em que podíamos ser esquecidos. Um terreno abandonado, cheio de entulho, com um ou outro animal peçonhento dormindo enfiado nos buracos. Mas o jovem dançava pelas poças, agora mais vigoroso, como se fosse familiarizado com aquele palco maltrapilho. Chegando ao final da rua, como que para coroar seu corajoso número , ele se virou para mim e retirou, em um só gesto, a máscara. Eu gritei, espantado. Minha face tomada de um horror absoluto. Era o homem mais bonito que já tinha visto em toda minha vida.
As náuseas voltaram outra vez, comecei a suar frio. Ele era tão doce e bonito que sentia como se fosse vomitar. Ele me abraçou forte contra seu corpo, seu rosto sem máscara grudado no meu. Soltei meu peso nos braços daquele homem desconhecido enquanto meu peito era novamente invadido pela vontade de não existir mais naquele mundo. O homem, então, retirou a máscara do meu rosto e secou delicadamente as lágrimas que escorriam em minha face. Tive o impulso de lhe dizer que estávamos fazendo uma coisa terrivelmente errada e que, se fôssemos pegos, eu talvez não pudesse mais sair ou talvez fôssemos multados, ou agredidos, ou mesmo mortos. Que ninguém seria capaz de compreender e que eu mesmo era incapaz de compreender o que estávamos fazendo. “Eu não sei mais dançar, eu não sei mais ser bom”, as palavras escaparam da minha boca, chorosas, como um pequeno garoto mimado. Me senti ridículo. Mas a boca do homem tocou a minha em um beijo gostoso e quente. Eu não sentia um beijo há milênios. Nenhum lábio nem roçou nos meus. Não tinha nem mais a memória da última vez que tinha sido beijado. Desesperado e ansioso, eu me agarrei nele, bruto, puxando seu rosto pra perto, entranhando meus dedos em seu cabelo. Precisava sugá-lo, ter ele inteiro e rápido, antes que ele fugisse, antes que desaparecesse, antes que ele percebesse que eu não sabia fazer nada, que eu havia desaprendido tudo sobre doçura, sobre sexo, sobre prazer. E sentia que era preciso correr, pois logo ele perceberia e eu ficaria sozinho outra vez. Minha sede era tanta que ele respondeu se afastando: “Não é assim. Deixa eu te conduzir. Eu vou lhe ensinar.” E aquelas palavras tiravam o peso nefasto dos meus ombros de precisar saber tudo. Finalmente alguém me cedia a mais doce ignorância. Eu poderia imitá-lo sem medo. Gaguejar e tremer, sem sofrer ameaças. Não precisava ser único, memorável, original. Poderia depender dele, acompanhar ele, apenas. Ele passava a mão suave em meu rosto, eu o replicava. Ele tirava devagar minha camisa, eu tirava delicado sua calça. Respirávamos cada vez mais juntos, sincronizados. Eu aprendia a ser cada vez mais gracioso, inspirado na leveza dele. Quando finalmente ficamos nus, completamente indefesos e expostos, senti novamente como se ele se iluminasse. Como se toda a quinquilharia a nossa volta reluzisse. Até a pior sujeira ficava bela ao lado dele. Ali, naquele clarão que ele emanava, eu podia querer existir. Eu poderia quase esquecer que deveria viver sofrendo.
Eu recuei deslumbrado com seu corpo, sua barriga, suas coxas, seu pau duro e vigoroso diante de mim. Queria mordê-lo, arrancar um pedaço dele, algo que pudesse ficar pra sempre comigo. Algo para nunca esquecê-lo. Ele primeiro colocou dois dedos em minha boca para que eu a abrisse. Senti o gosto de sua pele em minha língua. Principiei a chupar seus dedos, querendo mostrar que tinha sede, tinha fome, que estava pronto. Então me colocou de joelhos no chão de asfalto. Meus joelhos nus doíam contra o chão duro, mas eu não me importava desde que ele acariciasse gentilmente meus cabelos. Agora estava diante do seu pau, grande e ereto. Comecei lhe beijando, bem na cabeça e lambi sua glande devagar. Com minhas mãos segurava na base, firme. Seu pau ia ficando mais e mais molhado com minha saliva. Em seguida, fui subindo e descendo minha mão por todo comprimento dele. Tudo que era tensão e defesa em mim, agora relaxava. Abri bem minha boca e tentei chupá-lo até a base. Quando senti sua piroca inteira dentro da minha boca foi como se a gravidade fosse deixada pra trás. Meus joelhos não mais doíam. Eu estava em êxtase. O tocava vigorosamente, passava as mãos por todo seu pau, apertava também suas bolas. Eu estava de volta, vivo, presente, confiante. Brincava de lamber suas coxas e ir lambendo cada vez mais entre suas pernas. Descia a língua por seu pau, suas bolas, até quase alcançar seu cu. Seu lindo cu que estava a poucos toques de distância. Ele se agarrava a mim, curvando-se sobre meu corpo. Gemendo, tremendo, sorrindo. A graça divina caia sobre mim. As pernas dele bambeavam. Eu voltei a colocar seu pau dentro da minha boca, o segurando com as duas mãos. Queria seu leite. Queria o sentir jorrar em mim. Me limpar. Me curar de tudo que estava errado, de tudo que era dor. Ele estava quase, eu podia sentir o gozo vindo. A porra pronta para explodir em minha boca. Quando ouvimos o barulho de alguém se aproximando.
Ele me puxou forte, violento para trás de uma caçamba de lixo. Chutando nossas roupas para perto, agora imundas. Ficamos escondidos, ele me cobrindo com seu corpo, até ouvir os passos da pessoa se afastando novamente. Talvez tivéssemos feito muito barulho. Talvez aquela ruela tivesse algum tipo de vigília. Percebi que meus joelhos sangravam um pouco, ralados, em carne viva. Sacrifícios necessários. Ele verificou se a pessoa havia saído. Meu coração ainda palpitava de nervoso. Eu tentava não ceder a toda a raiva que queria voltar a tomar minha cabeça. Tentava segurar meus pés de correrem embora, de esmurrá-lo pra longe. Eu queria o amor, droga. Eu queria queimar minha casa, eu queria queimar minha rua. Eu queria sinfonias e tardes intermináveis com o caralho dele na minha boca. Com as mãos dele me tocando. Eu lutei contra a náusea que parecia querer me dominar. Eu lutei contra o ódio. Ele então me segurou por trás, começou a beijar e mordiscar minhas costas. Meus pelos se arrepiaram novamente, calafrios voltaram pra minha coluna. Minha visão tornou a ficar turva. Ele abriu minha bunda com suas mãos, apertando minhas nádegas. Eu tremi, meu cu latejava. Primeiro me deu um beijo doce. Depois senti a piroca dele roçando devagar nas minhas costas. O meu pau estava cada vez mais duro. Ele subiu e beijou meu pescoço enquanto metia um dedo devagar no meu cu. Eu relaxava mais e mais. Ele metia outro, e mais outro. Eu comecei a bater uma enquanto ele me dedava. Ele me pediu permissão para meter. Eu quase gritei: “Sim! Por favor! Imediatamente!”
O que vou descrever agora beira o indescritível. E você leitore pervetide, que assim como eu quer se aproximar do amor sereno que foi roubado de nós, você não poderá com nenhuma palavra no mundo compreender como é ser penetrado por um homem como esse. O que é senti-lo metendo e metendo em você, poderoso, triunfante, grandioso. Seu quadril batendo contra minha bunda, eu cada vez mais curvado, entregue. Como ele podia ser tão molhado e delicioso? Senti o gozo vindo, para nós dois. Não podia gritar, mas cantava por dentro. Minha alma dançava. A cidade não mais existia. Nossos pés não tocavam mais o chão. O ultragozo, o ultraprazer, agora eu entendia. E eu gozei, jorrei pra fora. Poderia pintar a cidade com minha porra. Poderíamos macular o mundo com nosso triunfo. Gozados e suados, nos abraçamos. Ele abriu um sorriso malicioso. “Por favor, não me machuque”, eu pedi. “Eu não sou esse tipo de monstro”, ele respondeu. Ficamos um bom tempo pelados e abraçados. Eu permiti que tudo em minha cabeça ficasse quieto novamente. Tentando permanecer um pouco mais longe da minha vida medíocre e dolorosa. Da minha luta inútil por ser bom, quando não ser parecia tão mais maravilhoso. Ele então se vestiu e me ajudou a me vestir. Nossas roupas imundas. Nossas máscaras suadas. O dia já estava indo embora, o sol já descia do céu e a rua ficava mais e mais sombria. Eu continuei paralisado um tempo enquanto ele marchava para fora da ruela. Ele cantarolava e dançava, outra vez, pisando em poças de lama. Depois, ele desapareceu da minha vista.
Eu não posso ser mais o mesmo, leitore. Eu não posso suportar mais toda a merda que era despejada sobre mim. A farsa que era obrigado a forjar. Eu peguei o dinheiro do mercado e entrei em uma antiga loja de música. Comprei um velho walkman que – para quem assim como eu desconhecia – é um pequeno aparelho, como um celular ou ipod, onde se pode colocar um cd para tocar. Veja bem, um cd e um walkman era tudo que podia comprar com aquele surrado dinheiro. Eu encontrei a música que ouvi da janela. Ela agora tocava clara na minha cabeça, bastava cantarolar para que a atendente, debochada e desanimada, me indicasse qual era. Era a Nona sinfonia de Ludwig Van Beethoven. Comprei um disco antigo com um compilado de músicas dele. A mulher de máscara da loja continuou tirando sarro de mim, mas no final acabou me oferecendo um desconto. Ninguém mais comprava nada daquela velharia abandonada. Eu coloquei os fones em meus ouvidos. Eu marchei para dentro da escuridão. Nunca mais minha casa. Nunca mais a náusea. Nunca mais o horror. As pessoas fugiam de mim enquanto eu caminhava. Eu estava pronto. Eu podia escolher. Eu me disse que a virtude vem de nós mesmos. É uma escolha que só a nós pertence. E quando um homem perde a capacidade de escolher, deixa de ser homem. Eu não vou me mecanizar. Eu vou procurar por ele.
* * *
Ilustradora:
Camila Albuquerque
 Camila Albuquerque é artista, mulher, LGBT e nordestina. Ela trabalha com diferentes linguagens, especialmente com a Pintura a Óleo e o Grafite, onde aborda temáticas do sagrado feminino, Erotismo e do Folclore. seu trabalho dá um enfoque cada vez maior na Brasilidade, na experiência pessoal que se liga ao universal, através de suas pinturas sob um novo olhar do prazer.
Camila Albuquerque é artista, mulher, LGBT e nordestina. Ela trabalha com diferentes linguagens, especialmente com a Pintura a Óleo e o Grafite, onde aborda temáticas do sagrado feminino, Erotismo e do Folclore. seu trabalho dá um enfoque cada vez maior na Brasilidade, na experiência pessoal que se liga ao universal, através de suas pinturas sob um novo olhar do prazer.