Tem vezes que o casamento parece um país estrangeiro, mas um país onde moramos por muitos anos e nunca nos sentimos verdadeiramente em casa. Há um esforço em se fazer entender nessa outra língua que nunca parece se encaixar em nossa boca. Logo há uma sucessão de mal entendidos, aparentemente evitáveis e, ao mesmo tempo, dificilmente superáveis que vão se amontoando em novas barreiras e fronteiras violentas. Aos poucos, nem mesmo nos reconhecemos mais em nós. Procuramos cheiros familiares, costumes que possamos nos agarrar para dizer que nos pertencem, que nos dividem, que significam algo próprio e diferente daquelas novas terras matrimoniais e o jeito estranho que tomamos dentro dela. “Esse tom de voz não é meu”, nos dizemos. Estranhamos nossa forma de vestir, de andar, de passar as mãos nos cabelos e interromper os pensamentos na boca. Uma raiva vai crescendo por tudo aquilo que parece ir criando raízes nesse exílio, tudo que nos dá a sensação de que não há como escapar, ao menos não impunemente. Por que compramos esse bilhete? O que pensávamos encontrar nessa terra prometida? Será que vamos seguir repetindo esse sonho maldito de navegadores? Ou assistimos tanto o american dream de que o sonho só se realiza far far away, longe, longe de casa? Ao final, descobrimos que é possível estar na cama do seu próprio quitinete com alguém, que parecia a viagem dourada, e perceber que nunca aterrissamos de verdade. Compartilhar a mesma solidão de um homem inglês de negócios preso no hotel em Bangladesh. Gostaríamos que tudo pudesse ser mais familiar, sem saber exatamente o que isso significa.
Ela tinha acabado de descer as escadas do prédio, num gesto de birra adolescente. Se sentia assim, mas ao mesmo tempo sentia que, naquela batalha, até sua birra era um tipo de coragem. Algo que podia dizer ser totalmente e unicamente seu. Estava saindo fora no meio da quinta briga que tinha tido essa semana e era apenas quarta-feira. Sabia inclusive que seu papel na briga tinha sido um tanto idiota, não era nem como se saísse pela porta por estar ultrajada e sentindo-se coberta de razão ou qualquer justiça que o valha. Não, ela saía da casa tendo certeza absoluta que aquela discussão era completamente sem sentido e que seus argumentos eram maliciosos e inflados pelo rancor de ter se metido voluntariamente naquele acordo. Por ter pensado que amaria aquele homem no seu melhor e o pior. Estavam no seu melhor – a vida financeira nunca esteve tão boa, ele nunca foi tão carinhoso – e ela já tinha certeza que não podia amá-lo tanto assim, faltava algo. Até mesmo os trejeitos que ela antes considerava os mais adoráveis, agora a irritavam profundamente. O cheiro dele a enchia de asco, como poderia dizê-lo? Como assumir que tinha amarrado seu dinheiro, seus sonhos, seu corpo naquele homem com quem pensou que fundaria um novo país e, agora, apenas a metia numa nostalgia estúpida? Tinha a sensação que ele era incapaz de entendê-la e que tudo nele apenas a lembrava como já tinha sido bom ter outra vida, ser outra pessoa que não a sua esposa – aquele papel medíocre que ela mesma tinha se escalado. Descia as escadas, um pouco porque aquele gesto era uma punição ao gênio passivo de seu marido. Escancarava sua impotência em persegui-la mesmo que até a esquina. O fazia chorar e torcer as mãos, mas não ia muito além disso. Ele não estava disposto nem ao menor e menos simbólico deslocamento em direção a ela. Apenas a esperava com a certeza de que ela daria com a cara em algum muro e voltaria. Um amor imigrante e exilado, torturado pela certeza de que não tem outra casa para retornar, que está preso ali. Normalmente isso se repetia exatamente como ele previa: ela voltava humilhada e ele a recebia com braços generosos como se nada tivesse acontecido, o que a fazia se sentir ainda pior. Mas daquela vez, ela caminhou até a esquina, onde normalmente realizava que não podia abandonar assim seu casamento, e parou na banca para comprar um cigarro tentando não voltar com as mãos abanando. Especialmente hoje, ela decide puni-lo com mais alguns minutos de espera. Senta no canteiro de plantas da calçada, diante de um boteco e uma mercearia. Ela sempre quis morar naquele bairro justamente por ser muito movimentado, independente do dia da semana há um ruidoso fluxo de pessoas – isso parecia bom, parecia estar no centro de algo importante -, mas agora ela odeia o fato de estar sempre cercada de tantas testemunhas para sua amargura. Principalmente os tantos amigos do seu marido que cruzam com ela e perguntam onde ele está, falam como são um casal bonito e outras idiotices que a envergonham, expondo a sua fraqueza em romper totalmente com aquela narrativa. À eles, ela responde sempre sorrindo dócil e inventando novas desculpas para estar sozinha, patética, há poucos metros de sua casa. Foi quando, no meio das pessoas indo e vindo com sacolas e compromissos, um homem sai do boteco com o celular no ouvido. Ele parece discutir com alguém do outro lado da linha. Olhando bem, ele parece com aquele menino que fazia aquele seriado de televisão quando ela era criança. Um pedrinho de algum sítio do pica-pau amarelo ou um garoto do chiquititas que agora lhe fugia o nome. Mas tinha certeza que o tinha visto, que o reconhecia apesar de estar mais velho, precocemente grisalho e um tanto abatido. Andava de um lado pro outro, a briga não era muito eufórica, um tanto monótona, até que o olhar dele cruzou com o dela do outro lado da rua. Sem perceber, ela abriu um pequeno sorriso que desconcentrou o homem de sua ligação. Do outro lado da chamada, a esposa desse homem reclama por ele nunca conseguir terminar seus projetos e nem percebe que ele mal conseguirá terminar aquela discussão. Ele agora estava surpreendido pelo sorriso amigo da moça do outro lado da rua, a voz de sua esposa tornou a ser um ruído distante e incompreensível. Sorriu de volta, o que deu um gosto menos amargo para a mulher com seu cigarro. Era preciso um verdadeiro estranho para ela lembrar sua doçura. Aquele gesto tão ordinário parou os dois. O cigarro e a ligação ficaram em suspenso. Os dois sustentaram o olhar sorridente um pouco mais, porque sentiam saudades daquele tipo de olhar, sem saber que essa já era a cumplicidade que os unia. O homem então desligou o telefone e caminhou até ela.
Os dois ficaram sentados no canteiro, lado a lado. Nenhum dos dois conseguia dizer nada de imediato. Foi quando, em silêncio, ele ergueu a mão e tirou delicadamente o cigarro dos lábios dela levando diretamente para a sua própria boca. Uma intimidade perigosa, dividindo o cigarro com aquele homem desconhecido, mas de alguma forma havia uma tranquilidade entre os dois, uma certa familiaridade, como se já tivessem feito aquilo daquele jeito antes. Um tesão, também assim tranquilo, ia crescendo na medida que passavam o cigarro de um pro outro. Tragadas longas e cúmplices, silenciosas, mas sem nunca desviar totalmente o olhar. Observavam o formato dos lábios, a forma que o cigarro repousava na boca, a pinta na bochecha, a falha na barba, o contorno grande do nariz, o desenho da sobrancelha. Achavam cada detalhe mais amigável que o outro, como se fosse nessas minúcias onde se reconheciam mais e mais. Logo o cigarro acabou, ela quase cogitou que fumassem todo o maço para prolongar ainda mais, mas ele pousou a mão sobre a dela, interrompendo o gesto de buscar por outro. A mão dele na sua era quente e firme, tão gostosa que ela enroscou os dedos, parecia uma mão assim feita na medida da sua – se é que isso existe, sabe lá o que moldam as mãos das pessoas todas. A tranquilidade agora guardava certo assombro, era tão doce o toque que os dois se assustaram um pouco. Não o suficiente para soltar, mas o suficiente para abrir outro sorriso, um tanto envergonhado, e querer balbuciar algo. Entre nomes, que pouco importavam, ele deixou escapar: “Quer sair fora daqui?”. Os dois sabiam muito bem o que era aquele aqui, aquele antes e os dois queriam fugir, nunca pensaram que teriam a coragem e agora perceberam que tinham e estavam já longe do canteiro, caminhando de mãos dadas para qualquer outro lugar.
Enquanto caminhavam se sentiam cada vez mais perto de algo especial, de algo comum a toda aquela tranquilidade assombrosa, àquele tesão cúmplice. Pararam no primeiro motel que encontraram, nem hesitaram, queriam qualquer quarto em que pudessem se refugiar. De algum modo sentiam como se entre quatro paredes pudessem chegar mais perto ainda dessa coisa sem nome que os atraía. Dentro do quarto, rapidamente estavam sentados na cama, descalços, com as roupas amarrotadas, dividindo uma garrafa do vinho que havia no frigobar. Agora falavam animados e as vozes pareciam ecoar no quarto, soavam como que amplificadas por memórias fantasmas, tão amigáveis e entusiasmadas que davam a sensação de permear as paredes e fazer daquele quartinho fuleiro, um lugar onde podiam ser mais frouxos, genuínos. Pareciam um tanto ingênuos, mas era como aquecer uma pequena festa. No início há algo quase histriônico, risonho e barulhento, até dar lugar apenas a uma música de fundo e uma atmosfera densa assim de poucas palavras. Quando se fala a mesma língua parece que podemos ficar mais em silêncio. Dá uma vontade de chegar mais perto da pele. Ele desabotoa a camisa, revelando os pelos do peito e da barriga. Ela se livra da calça justa, expondo as coxas grossas e a calcinha de algodão. Continuam no strip manso, ele tira a calça, ela a camisa. Cueca samba-canção e sutiã de bojo branco à mostra. Roupa íntima comum, uma seminudez cotidiana que dá aos dois um súbito conforto.
Nem todo caso de amor tem formas extraordinárias. Ela deita a cabeça em seu colo, ele sente as bochechas quentes em sua perna e os cabelos quase fazem cócegas caindo por sua coxa. Passa os dedos pelas orelhas dela, acaricia seu couro cabeludo. Há certo cuidado carinhoso como se tivessem retornado de uma longa viagem. Ela vai relaxando na carícia tenra dele até quase babar sobre sua perna. Ele tenta abaixar o rosto e beijar a orelha redonda dela, a boca quente beija suavemente a orelha úmida. A respiração dele a excita. As mãos agora percorrem seu braço, um carinho que vai ficando mais firme aos poucos. Vai despertando a carne mole, acordando os músculos. Ela começa a dar beijos por sua coxa, ele vai descendo os carinhos pelas costas dela, os beijos vão ficando molhados e fortes até se tornarem pequenas mordidas. Há uma sincronicidade na pega, um reencontro de costumes. Sentem que sabem dançar aquela dança, podem dançá-la de olhos fechados. Vão se atracando com desenvoltura. Logo ele está deitado ao lado dela, logo o rosto está grudado em sua nuca, logo a bunda com a calcinha de algodão roça no seu pau. Mesmo o cu lateja como se já conhecesse o tamanho do caralho. Uma familiaridade assim, desse tipo. A mão dele toca a buceta, o silêncio dos dois dá lugar para gemidos moles, a respiração vai de funda para cada vez mais entrecortada.
Ela puxa a calcinha de lado, ele mordisca e aperta sua bunda. Já viraram na cama outra vez sem nem perceber, a língua já encontra o cu latejante. Mãos que sobem e descem, o pau permanece de pé. Ele beija e lambe o buraco, as pregas, toda a bunda. Ela aperta os próprios mamilos. Com o rosto dele afundado em suas nádegas, se sente em casa. Rebola, treme, dá risadas. Gosta como a barba roça em sua pele. Fica mais e mais molhada, ele sente os dedos encharcados quando toca outra vez a buceta. Sustenta uma masturbação assim bem lenta enquanto continua se lambuzando no cu delicioso. Gosta de sentir que ela empina mais e mais e se contorce mais e mais, conhece o gesto, gosta de reconhecer o pedido para que a penetre fundo e agora. Coloca a camisinha e deixa o lubrificante descer gelado. Enquanto a cabeça namora a entrada do buraco, ele aperta a bunda, os dedos vão massageando tudo até começar a meter, devagar. Ela geme mais e mais, ele lambe sua orelha, ela coloca a mão na própria buceta. Ele continua devagar. Poderia continuar devagar assim por horas metido na bunda dela enquanto ela se toca. Sentindo ela rebolando com seu peso sobre o corpo dela, peito com costas, cara no pescoço. O telefone toca, é como um alarme de terremoto iminente, sirene de bombardeio, anúncio de invasão. Sentem aquele pequeno lar, aquele quarto-refúgio, ameaçado outra vez pelo estrangeiro. Lembram do perigo, ou melhor, da coragem daquela utopia um tanto insegura e até ingênua. Com medo da queda do muro, do retorno ao exílio, ganham adrenalina. Ele a segura por trás, agarra firme nela, ela acelera os dedos e o rebolado. Começa a penetrá-la mais rápido. Ela geme como se não fosse mais gemer nunca. Há um brilho em celebrar assim aquele instante gentil que sabem que logo escapa, logo pode morrer lá fora e por isso é tão precioso dar tudo de si aqui e agora. Ele mete mais fundo, os dois sentem as pernas ficando trêmulas, sentem o orgasmo vindo. A esperança deve ter o gosto de gozar junto assim, deve ter cheiro de cu amado. A guerra lá fora pode não estar resolvida, a vida pode estar à beira do colapso, mas gozaram juntos, forte assim, íntimos assim. Cúmplices não, agora melhor seria chamá-los companheiros. Em alguma fantasia esse poderia ser o início do fim.
Ilustradora convidada:
Magdalena Vianna
👉 Conheça o trabalho da Magdalena acessando o seu instagram.
Leia também:
- 5 Minisséries criminais para assistir preso no sofá
- Tuca & Bertie: O Surrealismo e a Comicidade na Animação
- O Direito do Mais Forte é a Liberdade
- Ouvidos pensantes: o que são paisagens sonoras?
- Trainspotting
- The Outsider: a fotografia do inexplicável
- Três vezes Hong Kong: as dicas agora são outras
- Jogos para jogar junto (mesmo separado) – Parte 1
- Sobre Cruellas e Mirandas

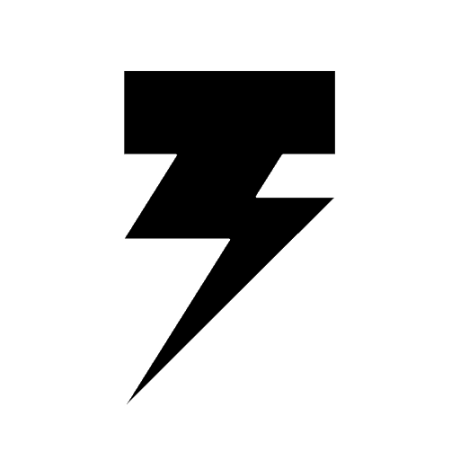
 Artista multidisciplinar com foco em cinema, teatro e artes visuais. Gosto de criar e contar histórias.
Artista multidisciplinar com foco em cinema, teatro e artes visuais. Gosto de criar e contar histórias. 