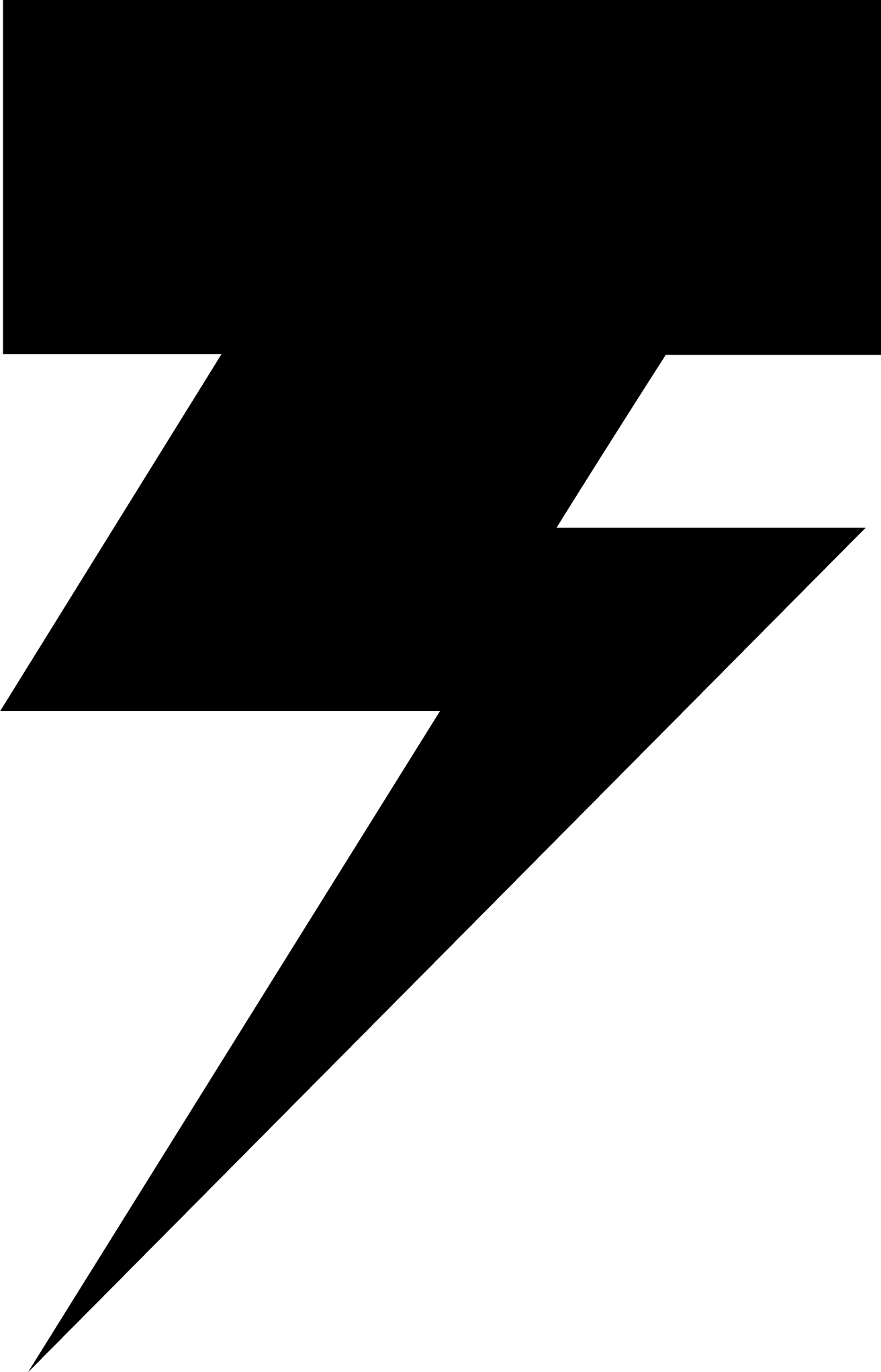Esse ensaio visa tentar traduzir a minha percepção de uma realidade que poucos tem acesso: O cotidiano de uma comunidade que foi dragada pelo movimento de expansão dos traficantes que vivem nos morros do subúrbio mais distantes.
No Rio de janeiro, as castas sociais invisíveis parecem existir não só entre ricos e pobres mas também entre os pobres e os mais pobres. Há as favelas assistidas (minimamente é verdade), que se localizam em áreas de maior visibilidade econômica e social. O que quase ninguém conhece ou entra para conhecer são as comunidades mais afastadas, dos subúrbios da central, dos ramais de trem nem um pouco famosos e que ficam entregue as baratas, no caso, ao poder paralelo do tráfico ainda armado nos longínquos subúrbios cariocas.
Para mim, observador social curioso, me deparei com uma situação familiar que mais uma vez me levou a reflexão pessoal/social sobre esse modos de existência que acabo por encontrar nas andanças e desavisos do cotidiano.
Um pouco de (pré)história.
Quis o destino que eu fosse criado dos meus dois anos até os quatorze, numa rua muito próximo à favela do Faz-quem-quer, no subúrbio de Rocha Miranda. De 1977 até 1989 morei nessa, que era a última rua antes do morro propriamente dito. Era uma rua sem calçamento, pouco iluminada que só foi asfaltada anos depois que me mudei de lá para continuar meus estudos no segundo grau.
Essa rua tinha muitas casas de 2 andares idênticas e geminadas, fruto de uma ideia de projeto de habitação para trabalhadores fabris. Ao longo do tempo essas casas foram sendo descaracterizadas pelos próprios moradores. Quis o destino e às chuvas de um verão nos idos de 1985, que a nossa casa, “a mais bonita da rua” segundo minha mãe, fosse completamente inundada por águas muito fortes que destruíram e/ou levaram nossos móveis e pertences. Lembro-me bem de uma cena: eu sentado no que sobrou do sofá, vendo o desenho do pica-pau na tv que ficava numa mesinha de madeira com a água passando tal qual o leito de um rio caudaloso bem à minha frente.
Nossa casa ficou quase toda destruída nessa primeira de muitas águas que passaram por mim enquanto assistia desenho na tv preto e branco (talvez pela falta de antena ou de atualização tecnológica, não sei dizer). Mesmo com a pouca idade e com obras que nada resolviam feitas pelo meu pai, desisti de morar ali e no alto dos meus quatorze anos, me mudei para casa da minha avó com o pretexto de ter ido estudar no CEFET.
 Meus pais continuaram ali até 1994 quando se separaram. Minha mãe saiu com meu irmão e tia, mas meu pai ficou até também se mudar em 1998. Mas a casa ficou alugada e se tornou parte do “patrimônio familiar”. Nessa época a rua chegou no que poderia chamar de auge, já tinha sido resolvido o problema das enchentes e a rua recebido asfalto a casa continuava muito mal conservada.
Meus pais continuaram ali até 1994 quando se separaram. Minha mãe saiu com meu irmão e tia, mas meu pai ficou até também se mudar em 1998. Mas a casa ficou alugada e se tornou parte do “patrimônio familiar”. Nessa época a rua chegou no que poderia chamar de auge, já tinha sido resolvido o problema das enchentes e a rua recebido asfalto a casa continuava muito mal conservada.
Em 2001, quando da morte de meu pai, praticamente esquecemos dela. Minha mãe, que tem um vinculo afetivo forte com o local é que passou a cuidar de lá. Como proprietária, ela ia até lá ocasionalmente para falar com os vizinhos-amigos que deixou por lá e resolver pendências.
Por mais de uma década me afastei de lá, talvez pelas lembranças dolorosas. No máximo ouvia falar da Jataúba, Nome da rua que se tornou sinônimo para a minha família da casa de nossa infância. Rua que brinquei, soltei pipa, joguei futebol, bola de gude, me ralei inúmeras vezes andando de bicicleta. A essa altura, a inquilina já tinha descaracterizado completamente o que havia restado do imóvel original, fazendo um puxadinho para frente, até a calçada e abrindo ali uma birosca, que é, para quem não sabe, um pequeno comércio que vende de tudo. Serve comida, cachaça, cerveja, sabão em pó, doces e salgados industrializados num balcão com cadeiras doadas (sempre!) pelas cervejarias que abastecem o local.
No ano passado, em virtude das fortes chuvas (sempre elas!), o telhado da casa estava prestes a ruir. Minha mãe já cansada, não dava conta de resolver esse problema sozinha pediu para que eu intercedesse. Nas já conhecidas sincronicidades que percebo em minha parca existência, eu estava prestes a começar uma obra no meu apartamento atual. Adiei minha obra por 2 semanas para ir com os pedreiros lá resolver o problema do telhado.
O improviso (burla)[1] era uma marca que forte do legado deixado pelo meu pai. Não poderia ser diferente. No “conjunto arquitetônico” deixado por ele em nossa velha casa, paredes de 3 metros sem nenhuma sustentação, telhas apodrecidas, remanescias dos projetos mirabolantes que pareciam existir somente dentro da cabeça dele, ameaçavam desmoronar em segundos. Com urgência marcamos a demolição e a reconstrução do telhado.
[1] Conceito que desenvolvi em minha dissertação de mestrado: A prática da Burla na tecnologia da informação: seguindo seus atores e interações sociotécnicas, 2012