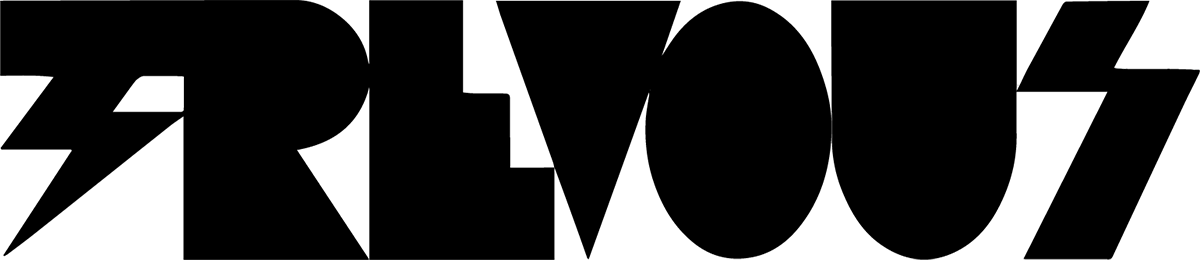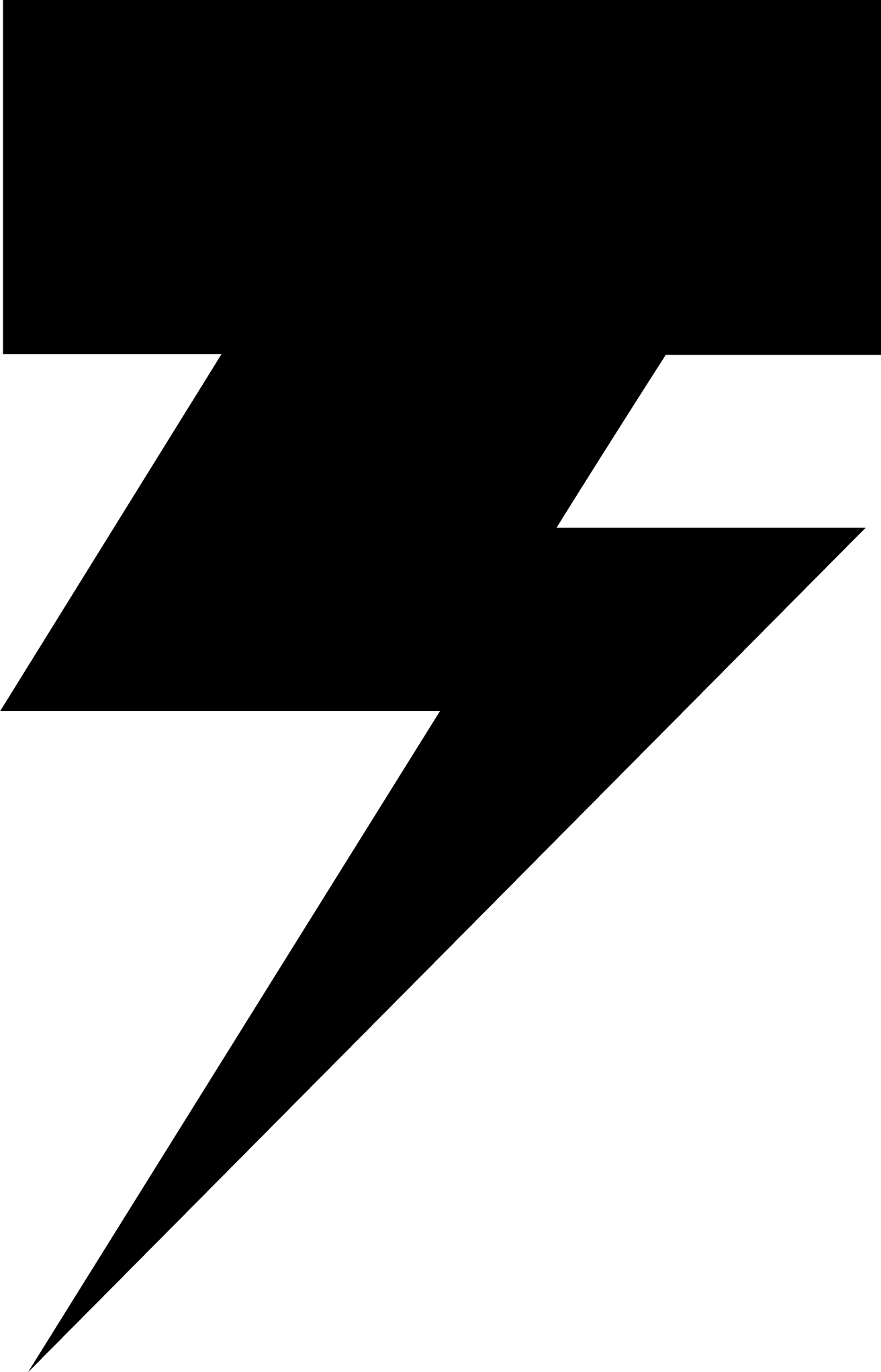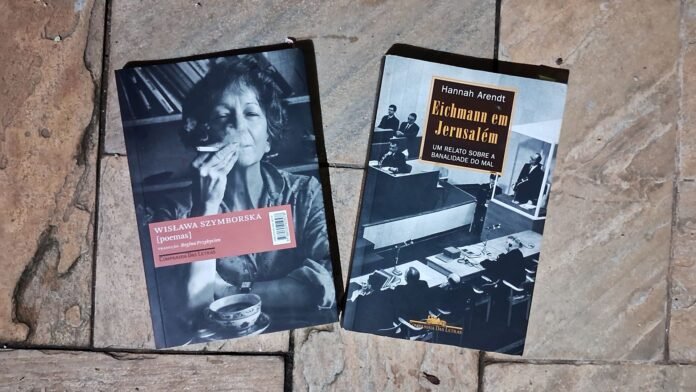Há uma ferida, inúmeras feridas, ainda abertas, na pele dos sobreviventes de guerras ao redor do mundo. São narrativas autobiográficas escritas a partir de testemunhos pujantes de dor e indignação. Não são fáceis de analisar e o risco de serem teorizadas é perderem o viés humanitário. Não me cumprirei, então, aqui, a analisar a estética do sofrimento, mas o sofrimento sempre me interessou. As dores humanas são e sempre foram um mistério, mas há sempre uma história que pode ser contada sobre elas. E é sobre isso que eu quero falar hoje.

Há uma filósofa que discorreu acerca das origens do totalitarismo e que buscou se aprofundar nas origens sociais e políticas da violência, mais especificamente no que se refere ao nazismo e ao holocausto: Hannah Arendt, nascida em 1906, na Alemanha. De família judia, é uma das mais influentes pensadoras do século XX. Escreveu obras muito importantes sobre seu tempo, como “A condição humana”, “Homens em tempos sombrios”, “Origens do totalitarismo” e “Eichmann em Jerusalém”.
Neste último, “Eichmann em Jerusalém”, a autora aprofunda seu pensamento crítico ao analisar o julgamento de Adolf Eichmann, um homem que não terminou a escola secundária e, não tendo êxito na vida profissional, foi convidado a participar do Partido Nacional Socialista e se filiar à SS. Posteriormente, na posição de tenente-coronel, foi responsável por deportar os judeus em massa para os guetos e campos de extermínio no Leste europeu. Teria-se, a princípio, a imagem dele como um humano cruel e sanguinolento, entretanto, durante o processo, ele se mostrava alheio às atrocidades que havia cometido.
Tratava-ve, antes de tudo, de um servidor público sem muita pompa, que tinha por objetivo primordial “vencer na vida” a todo custo. Era um homem cheio de esperanças, que desejava ser promovido e não apresentava qualidade ética no sentido de dimensionar as consequências de suas ações, como demonstra em seu depoimento:
“Em primeiro lugar, a acusação de assassinato estava errada. ‘Com o assassinato dos judeus não tive nada a ver. Nunca matei um judeu, nem um não-judeu – nunca matei nenhum ser humano. Nunca dei uma ordem para matar fosse um judeu ou um não-judeu; simplesmente não fiz isso. (…) só podia ser acusado de ‘ajudar e assistir’ à aniquilação dos judeus, a qual, declarara ele em Jerusalém, ‘fora um dos maiores crimes da história da Humanidade” (p.33)
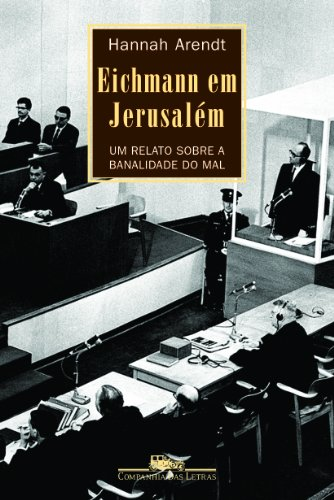
É neste contexto que Arendt traz às claras a Teoria da Banalidade do Mal, tida como um desafio ameaçador a toda e qualquer sociedade ou cultura, na medida em que essa banalidade é construída a partir da perda dos referenciais de uma sociedade democrática de direito e à medida que o Estado totalitário avança em poder, em propaganda e em técnicas de captação cada vez mais sofistificadas. Para a autora:
“A acusação tinha por base a premissa de que o acusado, como toda ‘pessoa normal’, devia ter consciência da natureza de seus atos, e Eichmann era efetivamente normal na medida em que ‘não era uma exceção dentro do regime nazista’. No entanto, nas condições do Terceiro Reich, só se podia esperar que apenas as ‘exceções’ agissem ‘normalmente’”. (p.38)
Isto é, na perspectiva de Hannah Arendt, em um Estado totalitário, o mal praticado torna-se facilmente banalizado, ganha caráter de lei, e quem a ele foge descumpre as normas vigentes. Rompem-se as delimitações da ética, ou seja, o dever ético é secundarizado porque a ética é transfigurada e ganha nova roupagem.
Contudo, apesar de a prática do mal ser banalizada, para quem dele padece o mal nunca é realmente banal. Os testemunhos nos mostram como a dor é viva e sempre retorna nos pesadelos dos sobreviventes de guerras. Nesse viés, quero apresentar outra escritora de que gosto muito, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2015: a bielorussa Svetlana Alexijevich, autora de “A guerra não tem rosto de mulher”, “O fim do homem soviético” e “As últimas testemunhas”. Me deterei neste último.
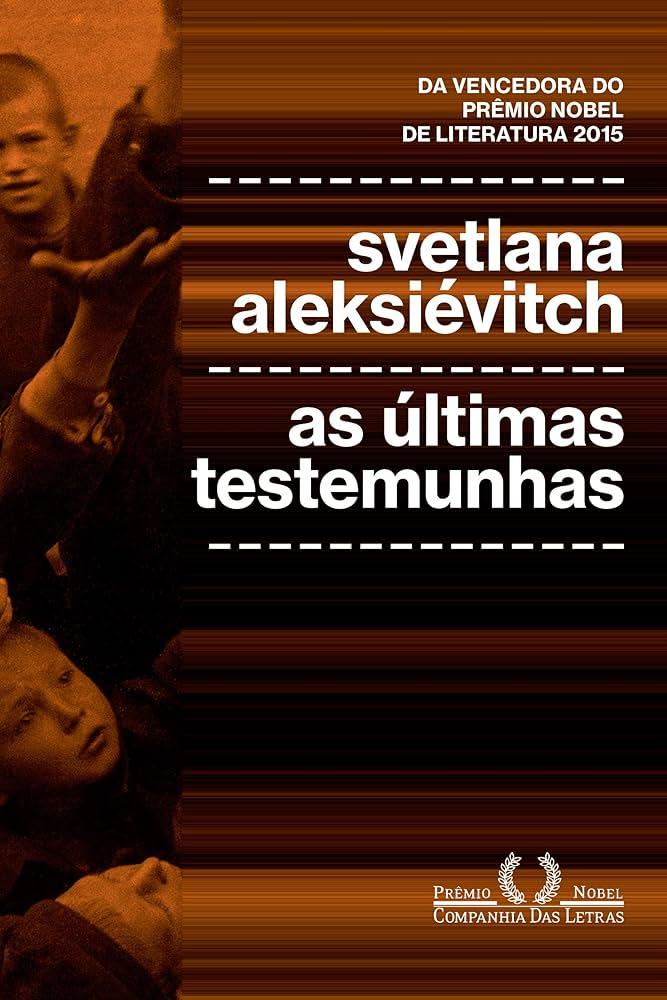
“As últimas testemunhas” é um livro de difícil digestão, que narra as histórias infantis de adultos que foram crianças na Segunda Guerra Mundial e que padeceram todo tipo de desastre e trauma: passaram fome, comeram restos, viram os familiares serem executados, tornaram-se órfãos, e nunca chegaram a entender. Quase mais triste do que perder a vida talvez seja mesmo perder a infância. Não poder brincar. Perder a melhor fase da vida, aquela em que o mundo se mostra sempre novo, único, mágico e encantador. O mundo todo morre um pouco quando morre a infância de alguém. Esse livro não é um mero livro de relatos, não é à toa que Svetlana ganhou o prêmio Nobel: seu trabalho é muito sensível e sobretudo marcante em entrevistar, organizar e selecionar não somente relatos, mas antes testemunhos poderosos, vozes que não devem ser esquecidas — as quais sobretudo devem continuar ecoando — de adultos sobreviventes que narram suas histórias a partir da lembrança do trauma, da perspectiva de quando eram apenas crianças inocentes e tiveram sua ingenuidade roubada. Esse livro é um soco no estômago necessário e muito poderoso, para ser lido aos poucos para não engasgar.
No prefácio do livro, a autora escreve:
No passado, Dostoiévski fez a seguinte pergunta: e será que encontraremos absolvição para o mundo, para a nossa felicidade e até para a harmonia eterna se, em nome disso, para solidificar essa base, for derramada uma lagrimazinha de uma criança inocente? E ele mesmo respondeu: essa lagrimazinha não legitima nenhum progresso, nenhuma revolução. Nenhuma guerra. Ela sempre pesa mais. Uma só lagrimazinha…
Uma das histórias, dentre as inúmeras que me marcaram — todas elas marcam de alguma forma — está a de Zina Kosiak, que tinha oito anos durante a guerra:
“A guerra acabou… Esperei um dia, dois, ninguém veio me procurar. Minha mãe não veio me buscar, e papai estava no Exército, eu sabia. Esperei assim por duas semanas, já não tinha mais forças para esperar. Me enfiei em algum trem, debaixo de um banco, e fui… Para onde? Não sabia. Eu achava (ainda era uma consciência de criança) que todos os trens iam para Minsk. E que em Minsk a mamãe me esperava! Depois viria papai… Um herói! Com condecorações, com medalhas. Eles tinham sumido num bombardeio. Depois os vizinhos me contaram que eles tinham saído juntos para me procurar. Correram para a estação de trem. Eu já tenho 51 anos, tenho meus filhos. Mesmo assim, eu quero a mamãe…
A criança nunca deixa de existir dentro do adulto. O trauma, especialmente o infantil, deixa marcas para o resto da vida. Assim também é para aqueles que foram pais, sobretudo mães, como escreve Wislawa Szymborska, autora polonesa, também ganhadora do Nobel em 1996, que possui poemas belíssimos:
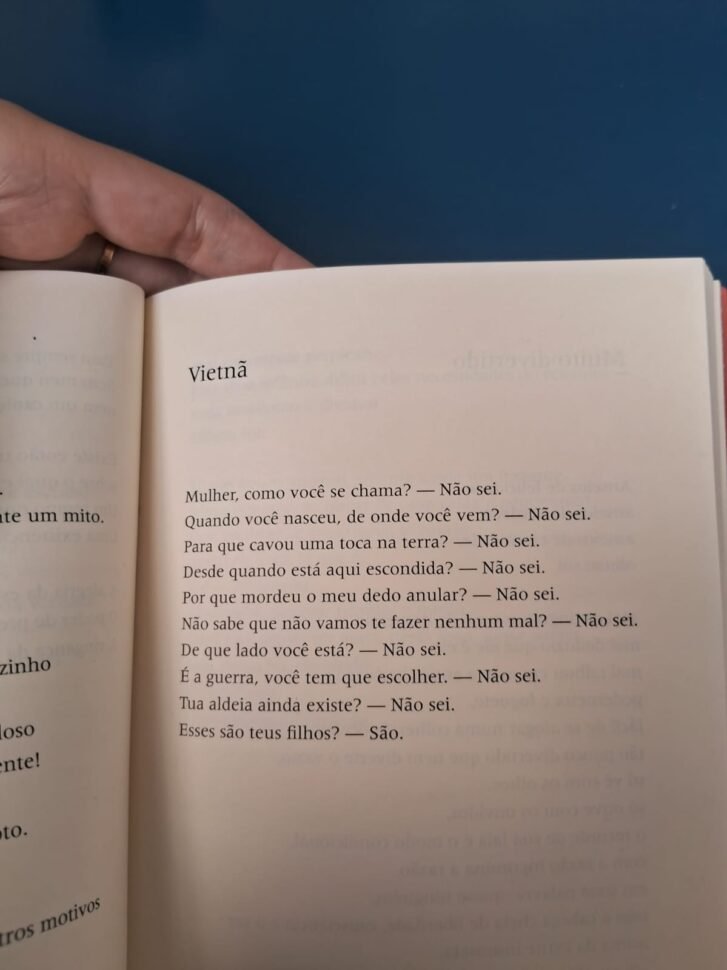
Na contramão disso, e paradoxalmente, os livros relatos também me fazem lembrar um filme assistido por mim na adolescência, um dos preferidos também de minha mãe, chamado “A vida é bela” (La vita è bella), de 1997, ano do meu nascimento. Nesse filme, o pai de uma criança, Guido Orefice, dono de uma livraria judaica na Itália Fascista, é capturado e mandado para um campo de concentração na Alemanha Nazista, juntamente de seu filho, o pequeno Giosué. Apesar da imposição, o pai deseja ainda preservar a criança de tamanho horror, e utiliza da criatividade como prova maior de seu amor paterno: inventa uma brincadeira e finge que o campo de concentração é, na verdade, um jogo, em que os presos competem para marcar pontos a partir de seu “trabalho” para que alguém saia como “vencedor”. O filme termina com um final relativamente feliz— e, afinal, bem que a vida poderia ser assim —, pois a guerra acaba e eles saem vivos.

Giosué: Nós vencemos!
Dora: Sim, nós vencemos! É verdade.
Giosué: Fizemos mil pontos e ganhamos o jogo! Fomos os primeiros e vamos voltar para casa de tanque. Nós ganhamos! Nós ganhamos!
– “A Vida é Bela” (1997) – Roberto Benigni
Mas e para os adultos que foram crianças na guerra? Questiono se de fato a guerra acabou para eles. Com a leitura de “As últimas testemunhas”, fica a impressão de que a guerra ainda repercute dentro de cada um. Pensando em todas essas violências, escrevi:
Raízes do trauma
A violência não nasce
da faca
A violência não brota
do solo
A violência não surgiu
com a arma
A violência não se serve
com as mãos
A violência não é
de hoje
A violência não acaba
amanhã
Não se remedia a violência
do ontem
Não se esquece a violência
dormindo
Não se aplaca a violência
rezando
A violência não se criou
no big bang
A violência não se limpa
no banho
A violência pode estar
num olhar
A violência pode ser
um instante
A violência permanece
nos nossos corpos
violentados
quando sonhamos
A violência persiste
no trauma
A violência não se enterra
no caixão
A violência
nos acompanha
até depois da morte.
Carolina Schittini
Leia também:
-
- Inovação VS Tradição – Quando as Mudanças Atingem as Bases da Festa
- Meu enredo tem axé
- A Jornada de um Enredo
- Identidade e Samba no Pé
- A Transcendência
- A fórmula do Dr. Pilsenstein
- O carnaval subversivo na terra ancestral pau-brasil
- A Esperança
- Joe Pease e a vida em diferentes camadas
- Summer Wagner e o sonho febril do mundo pós-industrial
- Lembrar do futuro, descobrir o passado