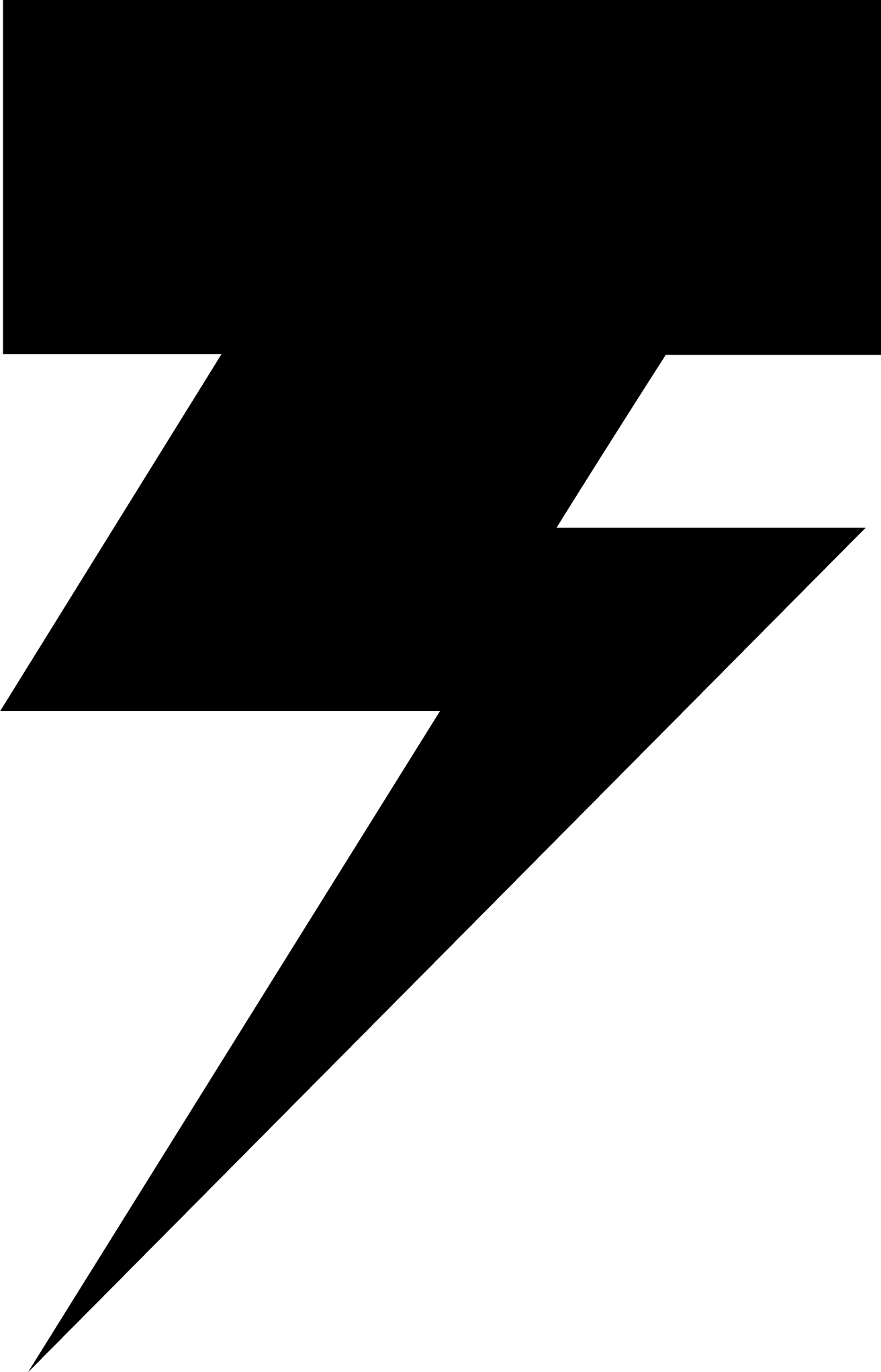Encontrei Eliza no saguão do Cinema Net Rio, em Botafogo, na sua estreia no Rio de Janeiro com “Incompatível com a Vida”, no final do ano de 2023. Enquanto eu bebia água e esperava por uma amiga, me dei conta que quem se sentava à minha frente era ela, colocando o casaco e também esperando uma amiga, que chegaria logo após. Foi interessante ver Eliza ali, aparentemente um pouco despretensiosa, mas também ansiosa, e logo em seguida poder ver sua bravura numa tela de cinema. É disso que gostaria de falar aqui, nesse breve texto sobre esse filme grandioso.
Vencedor do festival “É Tudo Verdade”, nas categorias melhor documentário e melhor montagem, e da Competição Brasileira de Longas ou Médias-Metragens 2023, o filme dirigido por Eliza Capai, possui beleza estética única, fotografia e jogadas cênicas que traduzem a intensidade da narrativa e sintetizam a natureza dicotômica do processo de vida e morte, o processo de luto dessas mães e a importância do debate sobre políticas públicas. A obra tem a potência escancarar um debate delicado, polêmico em muitas instancias, sobretudo para falar da questão do aborto e da autonomia das mulheres sobre o seu corpo, de maneira honesta. Estejamos atentos e fortes para os novos dias, porque o novo, o novo sempre vem. E que nunca nos falte amor humor e coragem, caso um Carrasco Azul apareça pela frente.
A partir dos registros sobre sua gravidez, que acabou tendo o diagnóstico do “feto incompatível com a vida”, Eliza convida outras mulheres para falar de vivências análogas à sua e a partir disso cria uma rede de vozes, falas e histórias que reverberam em temas universais, principalmente no recorte de gênero, sobre o debate pela perspectiva do direito humano da mulher, que passa pelo processo do diagnóstico e esbarra em feridas estruturais – mas também individuais.
A diretora ficou grávida durante a pandemia de COVID-19, em pleno governo Governo Bolsonaro. No filme, utiliza imagens contextualizando o enclausuramento, ou então, assim como, o episódio que tomou grandes proporções midiáticas, do caso da menina de 10 anos que foi hostilizada por fundamentalistas religiosos, ao chegar no hospital para realizar o aborto, fruto de uma violência sexual.
Eliza Capai é documentarista e formada em jornalismo pela USP, coleciona mais de cem prêmios com longas, séries e curtas, sempre buscando o recorte de gênero em sua abordagem tão única. “Tão Longe é Aqui”, de 2013, é um deles. Além dos filmes, dirigiu a série documental original Netflix “Elize Matsunaga: Era uma vez um crime”, que aborda a história com uma perspectiva delicada e traz um paralelo com a repercussão de crimes cometidos por homens e mulheres.
O que é ser mãe? É uma das perguntas de plano de fundo do filme, vai desenhando as questões do desejo, do sentimento, assim como o debate do direito humano e o direito ao próprio corpo. O debate vai caminhando nessas questões, que ao mesmo tempo delicadas, necessitam de um espaço seguro para serem debatidas e acolhidas, uma vez que também são urgentes.
As mulheres entrevistadas, ou a maioria delas, tem ou já tiveram o desejo de ser mãe de maneira latente, vívida. Algo que faz ou fez parte de sua construção pessoal. Portanto, o espectador se depara com a questão do aborto não como um “desejo” de abortar mas sim uma questão de direito de abortar, direito ao próprio corpo. Ao mostrar não só a sua solidão interna, mental, corporificada – pois ainda que esteja amparada por seu companheiro, é um processo pessoal corporal da mulher – mas também uma solidão institucional, de falta de acessos básicos, debates, informações. Falta do mínimo.
Um ponto interessante nesse filme de Eliza, é que ela é uma das personagens dessa narrativa e traz isso de forma muito potente. Essa superexposição de si mesma é um ponto importante do impacto que o filme traz e dá luz a sua perspectiva escancaradamente. Capai não é a primeira nem a última diretora a ser uma das personagens do filme que dirige, mas com certeza, realizou essa saga de forma brilhante e corajosa.
A subjetividade contrasta com a materialidade o tempo todo, muito compelido à montagem, comportando um ritmo que convida o tempo certo de elaboração do espectador e aborda o contraponto de toda burocracia médica e judicial, à questão de nuances mais subjetivas, como os pesadelos, comum à praticamente todas as mães entrevistadas e que consistiam em sensações ruins e experiências de morte.
O corte da cena em que o médico dá o laudo e explica a má formação, funcionam como o banho de água fria no espectador, depois de perceber a noção de profundidade do que é gerir uma vida e a dor do que é perdê-la. Mais uma vez, nos vem a pergunta: “O que é ser mãe?”. A montagem trabalha muito bem os contrastes que Capai busca, tanto entre as entrevistas como entre imagens mais artísticas, que causam uma sensação visual muito perene ao que se discute ali. As imagens submersas no mar chamam atenção e dialogam muito bem com a ideia de uma certa imensidão de sentimentos, ou uma ideia de estar envolta por algo e ainda assim, solitária.
A escolha das personagens foi muito bem realizada a medida que foram expostas experiências totalmente diferentes, em função das questões que Eliza já se debruça, como a raça, a classe social e até mesmo as histórias acerca da presença do pai da criança – ou não – que tiveram o diagnóstico.
Uma das personagens, uma mulher não-branca e de classe social baixa, conta sobre o seu sentimento de culpa pelo diagnóstico do feto e diz ter essa sensação por toda a gestação. É possível criar um paralelo com questões mais estruturais, onde mulheres negras ou não-brancas se encontram nesse ciclo de auto culpa, as vezes por ter crescido com a ausência do Estado no fornecimento do básico, as vezes pela falta de informação ou até mesmo pela questão do racismo, ou quaisquer outras questões que atravessem esse agente “histórico”.
Corta a cena para a conversa de Eliza com seu parceiro sobre a notícia do diagnóstico, num diálogo que traduzia uma busca por um entendimento da questão de vida e morte e da própria elaboração do luto. Não havia um sentimento de culpa – pelo menos, não demonstrado ali -, mas ela fala sobre uma sensação de um sangramento interno, uma sensação de frustração e tristeza. Sem querer, ou querendo, Capai vai fundo nos contrastes quase subjetivos – e materialmente concretos – que acabam esbarrando em recortes que ela vêm afirmando desde então.
A diretora explora sua própria vulnerabilidade muitas vezes em cenas reais de seu cotidiano, com tripé no quarto, arrumando as malas ou tomando um banho no chuveiro enquanto chora. Assim, ela vai mostrando a interioridade de sua dor e de sua vida, sua casa, seu corpo. A coragem presente na iniciativa de Capai, choca em muitos níveis o espectador e nos leva a uma sensação de interioridade e do olhar para dentro de si, do seu corpo, a partir das histórias que são comoventes, gritantes, incômodas, melancólicas e que passam a ter alguma beleza quando, no final, já nos sentimos íntimos delas.

Os elementos técnicos como a trilha sonora, assinada por Mariana Genescá com desenho de som por Décio 7 e participação de Juçara Marçal, dão o tom exato à narrativa e levam o espectador numa viagem para dentro. Dentro de si, dentro da tela, dentro de cada história, dentro da dor… Assim como a fotografia, assinada por Janice D’Avila e João Pina, sobretudo nas imagens do mar. Esses aspectos, em conjunto, dialogam com os outros aspectos técnicos e causam uma estrutura coesa para contar essa história.
O poder desse tipo de filme nos permite levar esses debates tão importantes à frente, que tem como consequência a provocação de alguma mudança, seja ela em escala pública ou em dimensão privada, individual. Mas de fato, é certo que as pessoas que saíram daquela sala de cinema naquele dia, saíram pensativas. Foram alguns segundos de silêncio após o término do filme, enquanto os créditos passavam. Ninguém se levantou, ninguém falou nada, nem se mexeu. Estavam todos extasiados com o que tinham visto, entre muitos sentimentos, desde agonia e tristeza até a algum tipo de alívio e conforto. Quando acabaram os créditos, todos aplaudiram de pé por pouco mais de um minuto.
Durante o debate após a sessão, com a diretora do filme e a produtora executiva, Eliza fez um fala que rendeu mais palmas (contém spoiler):
ter aquela cena no filme
É importante pensar que muitos fatos ligados ao gênero feminino é enclausurado por questões maiores que nós, como o governo, a legislação, a própria sociedade em si. O que Eliza faz nessa obra, é escancarar esse debate e entrar na casa dessas famílias para mostrar que esse assunto deve ser falado, discutido e mudado. Ao receberem o diagnóstico do feto incompatível com a vida, a mulher pode “optar” por abortar, mediante burocracias jurídicas, ou seguir com a gestação e ter um bebê praticamente natimorto.
Algumas famílias de classe média, tiveram a experiência de poder ter esse momento com o bebê (no caso de escolher isso), de maneira digna. Outras famílias ou mulheres solos, pobres e racializadas, já não tiveram a mesma sorte. Ou não conseguiram burocraticamente ter acesso ao documento que libera o aborto ou não tiveram uma boa experiência na rede pública de saúde. Uma das personagens, chegou a passar horas no leito, após o parto, sem ter acesso ao seu bebê, sem ao menos poder vê-lo.
São muitas camadas expostas no filme e todas elas muito importantes. O filme é de fato um soco no estômago, principalmente para as mulheres, mas é também um lugar que traz o sentimento de algo menos solitário do que se é. Afinal, o que é ser mãe? É um sentimento? É um desejo? Qual a relação do gênero feminino com a questão da maternidade? E qual nosso, quando mulher, na questão da jurisprudência? Como diz uma de suas personagens: “Ser mãe é se jogar no escuro”.
É importante falar da relevância que é construir obras que toquem nesse assunto, que questione o posicionamento em geral sobre o aborto, que dê a possibilidade das pessoas olharem para a história de cada uma dessas mulheres e buscar alcançar uma perspectiva mais humanizada, mais acolhedora. Um filme que traz o impacto da solidão, da burocracia descabida e da indiferença de uma rede institucional para mulheres, entendendo a perspectiva estrutural que isso possui. E mais importante salientar a qualidade da obra como um todo, sobretudo a direção de fotografia, a montagem, a trilha sonora, etc. que colaborou para garantir os prêmios e acredito que ajudaram na elaboração de bons insights aos espectadores atentos.
O filme é exemplar em tudo que se propõe, traz debates significativos, busca outras perspectivas de explorar e explanar esse e outros assuntos que atravessam os temas do aborto, do luto, da maternidade e da questão dos nossos direitos, enquanto mulher. Recomendo muito este longa-metragem, para além de todos os pontos já citados anteriormente, uma vez que pouco se fala sobre essa síndrome ou diagnóstico do feto incompatível com a vida e seus desdobramentos. Descubra outros filmes da autora e fique com o trailer de “Tão Longe é Aqui” de 2013.